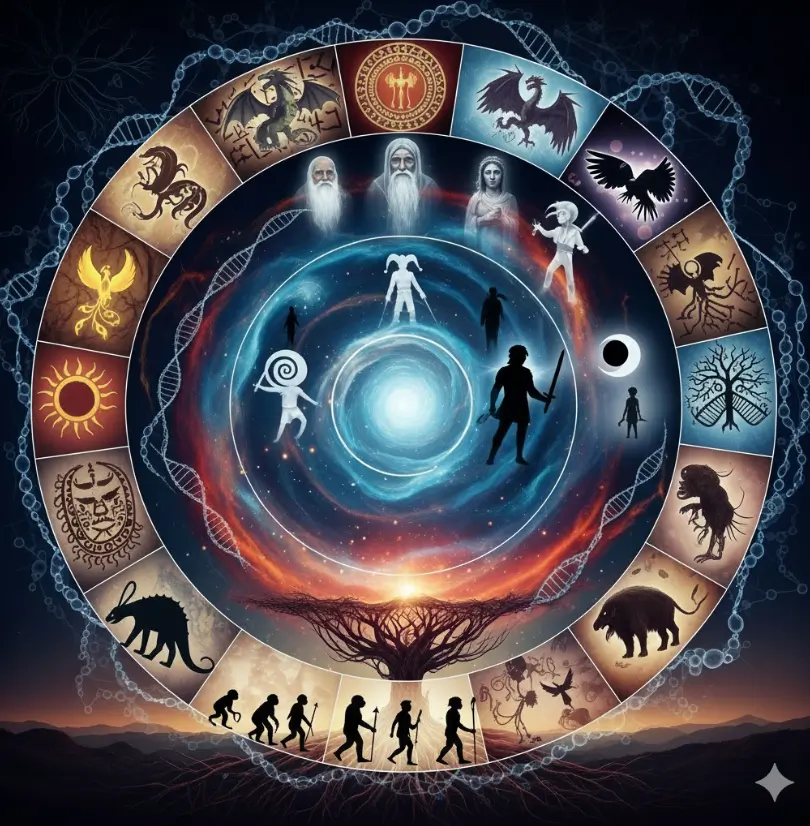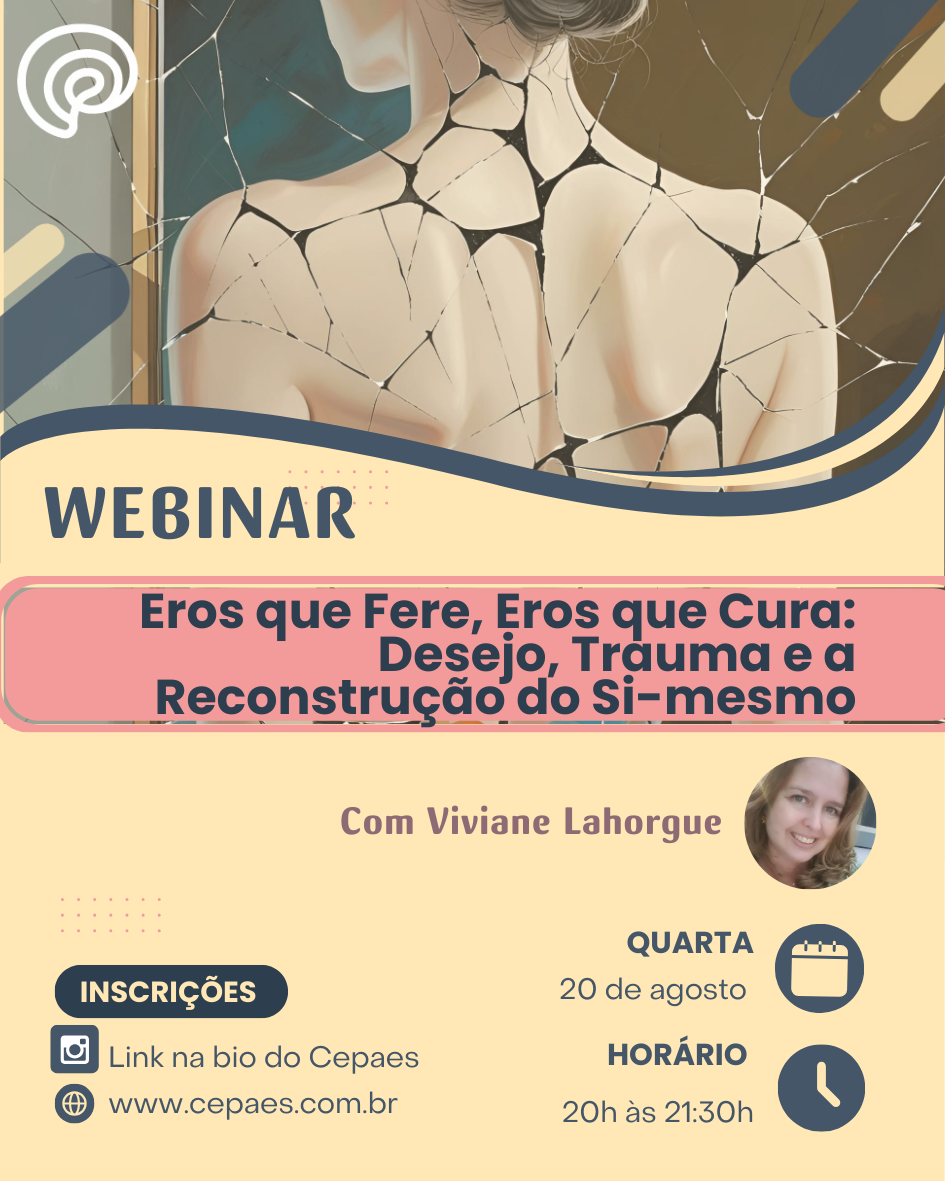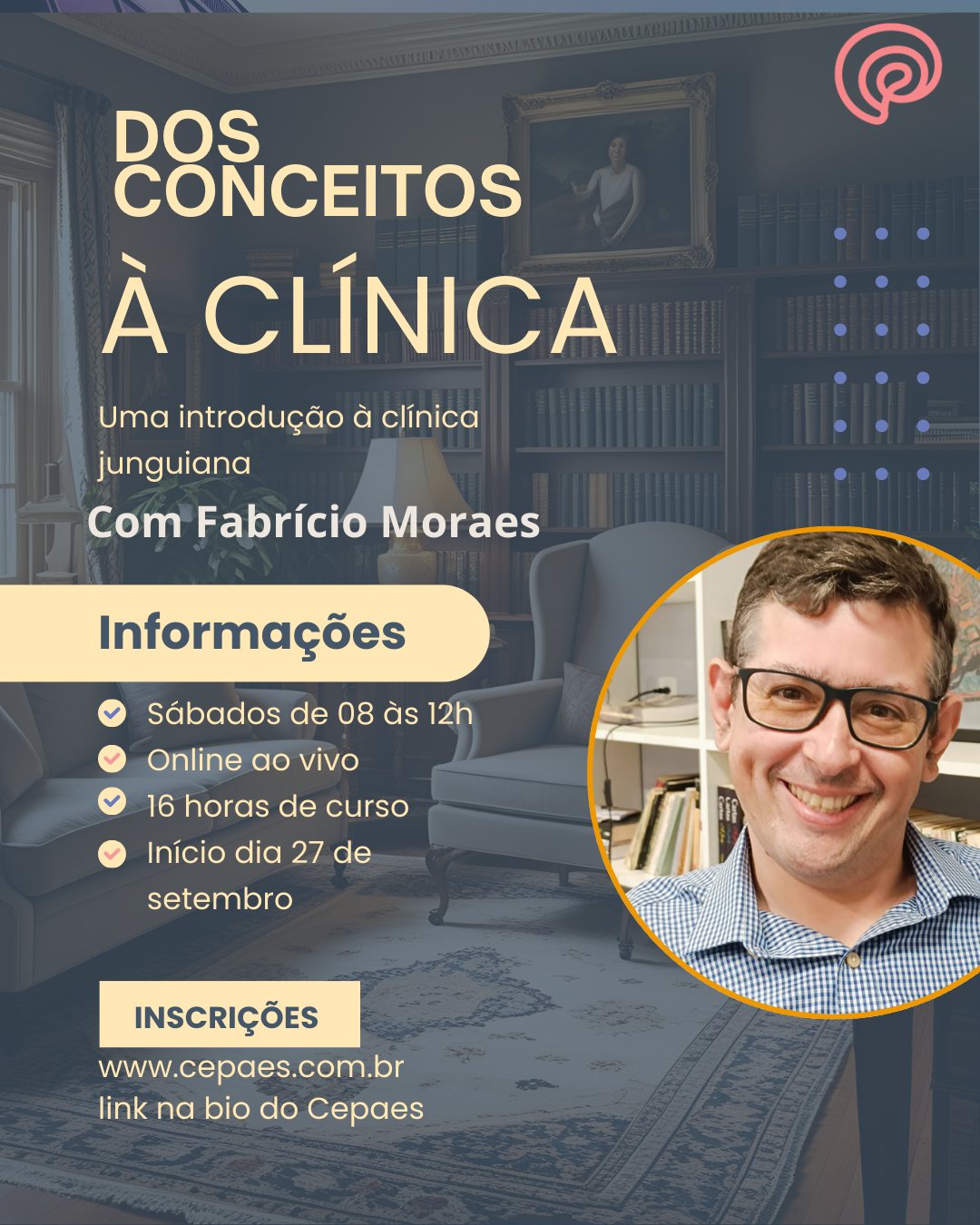Vale Tudo (2025): Quando a Persona Toma o Lugar da Alma
A nova versão de Vale Tudo não apenas revisita uma narrativa clássica da televisão brasileira — ela funciona como um diagnóstico simbólico da psique coletiva contemporânea. Com precisão quase clínica, a obra revela uma cultura que perdeu a capacidade de se olhar com honestidade, substituindo o espelho pela vitrine, o conflito pela curadoria e a alma pela persona.
O que antes era um drama sobre caráter, dilemas éticos e contradições morais tornou-se um desfile de identidades cuidadosamente calibradas para agradar ao gosto vigente. A novela que, em 1988, transformou a sala de estar em espaço de catarse nacional, expondo as fraturas entre integridade e ambição, culpa e sucesso, desejo e consciência, retorna agora como produto higienizado — emocionalmente inócuo, esteticamente correto e simbolicamente empobrecido.
A autora não apenas reescreveu o texto original; ela reconfigurou o inconsciente da obra, apagando os símbolos que lhe conferiam densidade humana e complexidade moral. O que se vê é uma dramaturgia que evita o desconforto, estetiza o conflito e performa virtudes em lugar de enfrentá-las. Tudo o que é ambíguo foi expurgado. Tudo o que é trágico foi neutralizado. E, como toda cultura que teme sua própria sombra, Vale Tudo (2025) prefere parecer curada a se transformar.
No plano simbólico, a obra encena o triunfo da persona coletiva — essa máscara social que, como descreveu Jung (2014), é necessária para a convivência, mas torna-se destrutiva quando se confunde com a identidade profunda. O inconsciente cultural brasileiro, que antes se via refletido em figuras humanas e falhas, agora busca apenas imagens limpas, éticas, inclusivas — e, paradoxalmente, desumanas. A arte, que poderia ser espaço de elaboração da sombra, converte-se em vitrine daquilo que se deseja parecer.
A estética substitui o símbolo. A catarse dá lugar à correção emocional. A narrativa, despojada de culpa, desejo e contradição, revela um sintoma coletivo: o medo da complexidade. É como se a televisão, espelho da psique nacional, estivesse agora sob o domínio de um superego midiático, onde o erro é inadmissível e a ambiguidade, um crime de imagem.
O mito, que antes servia para humanizar o inconsciente, hoje é manipulado para limpar o espelho. Vale Tudo (2025) representa, assim, o esvaziamento do mito pelo politicamente aceitável. E o que se perde nesse processo é o valor simbólico da arte — aquilo que Hillman (2010) chamou de “pensamento do coração”: a capacidade de sentir o trágico sem buscar redenção imediata.
Ao neutralizar o conflito, a nova narrativa confirma o diagnóstico mais profundo de Jung (2014): quando o símbolo deixa de ferir, o inconsciente coletivo adoece de adaptação. O resultado é uma ficção sem alma — tão bela quanto anêmica, tão correta quanto incapaz de despertar a verdade.
Afonso: o protagonista ausente
Na versão original de Vale Tudo, Afonso era mais do que um personagem — ele era o eixo ético e emocional da narrativa, o ponto de tensão entre os valores que sustentam a alma e os desejos que desafiam a consciência. Dividido entre o amor e o dever, o afeto e a moral, ele encarnava a ambiguidade essencial da condição humana. Sua jornada não buscava perfeição, mas discernimento. E sua dúvida não era fraqueza, mas prova da alma.
Afonso simbolizava o homem que sofre porque sabe — aquele que não pode agir sem refletir, que não consegue amar sem se ferir, e que não se exime da responsabilidade. Ele era o herói trágico, não por sua queda, mas por sua lucidez. Sua presença sustentava a tensão arquetípica entre o ego e o Self, entre o mundo e o espírito, entre o sucesso e a integridade.
Na nova adaptação, essa dimensão trágica é apagada. Afonso torna-se um homem linear, domesticado pela correção, inofensivo em sua coerência. A consciência dá lugar à conformidade. O herói ético é substituído pelo cidadão exemplar, e o conflito interno — motor da transformação psíquica — desaparece sob o peso da moral pública. Em vez do drama humano, temos o modelo comportamental: o homem “do bem”, que se move sem rasura, sem falha, sem contradição.
Para Jung (2014), a consciência só se amplia quando é capaz de sustentar a tensão dos opostos — razão e emoção, dever e desejo, sombra e persona. Quando essa tensão é eliminada, o ego perde vitalidade e se torna rígido, adaptado, estéril. O novo Afonso é, assim, a metáfora do ego coletivo contemporâneo: quer ser ético, mas não suporta a ambiguidade da ética. Sua retidão é aparência, não elaboração. Ele não se desenvolve porque não erra. E a psique que não erra adoece — não de culpa, mas de estagnação.
Afonso encarnava o eixo da consciência que hoje está ausente da cultura. Ao eliminá-lo, a narrativa enfraquece seu próprio coração simbólico. O público não é mais convidado a refletir sobre dilemas morais, mas a confirmar suas certezas. O herói que antes despertava o desconforto da escolha é substituído por um espelho moral que só devolve aquilo que o espectador já acredita ser.
Leila: da sombra revelada à ambição normalizada
Na versão original de Vale Tudo, Leila era uma personagem que se movia nas margens da trama — discreta, quase inócua, até que sua revelação como assassina rompesse com todas as projeções. Sua vilania não era anunciada, mas emergente. E é justamente essa surpresa que lhe conferia densidade simbólica: Leila era a sombra que se revela tarde demais, o desejo reprimido que explode, a dor que se transforma em violência.
Na nova versão, essa potência simbólica se dissolve. Leila não é mais uma figura que surpreende — ela é apenas parte de um casal ambicioso, funcional, esteticamente alinhado com os valores contemporâneos. Sua transgressão — agora como estelionatária — não escandaliza, não fere, não provoca. Ela não é julgada nem estigmatizada; ao contrário, é compreendida, contextualizada, até mesmo suavizada pela narrativa.
O que antes era ruptura, agora é estilo de vida. A ambição, que antes carregava o peso da culpa, hoje é tratada como atributo. E Leila, que um dia encarnou o feminino ferido e perigoso, torna-se apenas mais uma mulher estratégica, adaptada, emocionalmente funcional. A sombra não é mais revelada — é incorporada como traço de personalidade.
Esse deslocamento revela um sintoma cultural profundo: a substituição do conflito simbólico pela performance narrativa. A nova Leila não representa o mal que emerge — ela representa o desejo que circula. E, por isso, não exige elaboração, apenas consumo. Ao retirar de Leila a dimensão trágica, a narrativa abdica da catarse. O público, em vez de ser surpreendido pela complexidade humana, é tranquilizado pela coerência comportamental. O que era símbolo vira sintoma. O que era sombra vira estilo. E o que era arte vira reflexo.
Maria de Fátima: da vilania simbólica à caricatura narrativa
Na versão original de Vale Tudo, Maria de Fátima era uma vilã com densidade psíquica. Ambiciosa, sedutora, calculista — mas também capaz de amar. Seu relacionamento com César não era apenas estratégico: havia afeto, desejo, contradição. Essa ambiguidade tornava sua vilania simbólica: ela não era apenas má, era humana em conflito.
Maria de Fátima representava o arquétipo da sombra feminina voltada para o poder. Sua trajetória expressava o desejo de ascensão social a qualquer custo, mas sem perder completamente o vínculo com o afeto. Ela não era uma caricatura — era uma figura mítica da ambição brasileira: aquela que quer vencer, mesmo que precise trair, mas que ainda deseja ser amada.
Na nova versão, essa complexidade é enfraquecida. Maria de Fátima continua ambiciosa, mas sua inteligência estratégica é substituída por uma esperteza improvisada. A relação com César permanece, mas perde densidade simbólica: o afeto existe, mas não é elaborado como conflito. O que antes era tensão entre desejo e poder, agora é tratado como oscilação emocional.
Ela ainda sente — mas o roteiro não sustenta essa ambiguidade como eixo dramático. A incoerência narrativa se intensifica quando a personagem é retratada como mais astuta que uma estudante de medicina de Campinas — como se uma menina que mal estudou pudesse manipular com facilidade alguém com formação, estrutura e consciência. Isso não é impossível, mas exige elaboração simbólica. Sem ela, a trama perde verossimilhança e profundidade.
Maria de Fátima não precisava ser redimida — mas precisava ser respeitada como símbolo. Ao transformá-la em caricatura, a nova versão dissolve a tensão entre desejo e afeto, entre ambição e vínculo. O que resta é uma personagem ruidosa, mas esvaziada: uma vilã que ainda sente, mas já não é elaborada como sombra — apenas como ruído.
Solange: do feminino integrador à persona de marketing
Na versão original de Vale Tudo, Solange era um dos centros afetivos da trama. Ao lado de Raquel, representava uma dimensão do feminino que não precisava ser heroica para ser essencial. Enquanto Raquel encarnava a força resiliente da mulher que constrói o próprio destino, Solange simbolizava o feminino integrador: aquele que une amor e consciência, afeto e discernimento, vínculo e ética.
Seu relacionamento com Afonso era mais do que um romance — era uma metáfora da reconciliação possível entre alma e razão. Solange não precisava provar sua força: ela a exercia silenciosamente, por meio do cuidado, da escuta, da presença. Em termos junguianos, ela expressava o arquétipo do feminino enquanto princípio relacional — aquele que cura não pela imposição, mas pela integração.
Solange sente. Ela continua sendo uma figura de afeto. Mas na nova adaptação, com o apagamento simbólico de Afonso — o eixo ético que sustentava sua função narrativa — Solange sobra. Sem o outro que lhe permitia elaborar a tensão, ela é convertida em personagem autônoma, porém isolada. O feminino integrador perde seu campo de ação, e o que resta é a performance da competência emocional.
Reconfigurada como mulher “forte”, “bem resolvida” e “empoderada”, Solange deixa de integrar e passa a representar. Sua força agora é aparência; sua coragem, retórica. O feminino simbólico dá lugar ao feminino performático, e o cuidado é substituído pela imagem da eficiência emocional.
Na teoria junguiana, a persona é uma adaptação necessária ao mundo social, mas torna-se perigosa quando se confunde com o eu (Jung, 2014). É exatamente isso que ocorre com a personagem: a mulher da alma foi convertida em mulher da imagem. O amor, que antes revelava profundidade, agora serve à estética do exemplo. O símbolo do feminino integrador é trocado pela vitrine da correção.
Essa transmutação de Solange em modelo midiático espelha o que Hillman (2010) chamaria de “perda da alma no mundo moderno”: quando o sentimento é substituído por performance e o cuidado por imagem. A cultura da persona dissolve o vínculo, e o que resta é o simulacro de empatia. Solange, outrora símbolo da humanidade, torna-se o rosto luminoso de uma psique que não suporta mais o erro.
Odete Roitman: o poder sem culpa e a branquitude que se reescreve
Na versão original de Vale Tudo, Odete Roitman era o arquétipo do poder dissociado da alma. Inteligente, cruel e profundamente racista, ela simbolizava o inconsciente da elite — o complexo cultural da dominação que estrutura o imaginário brasileiro. Sua repulsa a nordestinos, sua intolerância social e seu desprezo pela pobreza eram o espelho fiel de um país cindido entre aparência e privilégio. Odete não era apenas vilã: era denúncia. Ao olhar para ela, o público via, inconscientemente, o próprio pacto com o poder.
Odete jamais seria chantageada por duas meninas. Sua autoridade era absoluta, sua inteligência estratégica. Ela manipulava, ameaçava, humilhava — mas não se deixava expor. E, sobretudo, não era assassina. Odete não matava: ela destruía simbolicamente. Sua força estava no controle, não na violência. Seu grande castigo, na versão original, não foi ser punida por um crime — foi perder César, o namorado, o vínculo afetivo que lhe escapava, a única relação que a humanizava. Essa perda era o verdadeiro golpe: o poder sem afeto, a tirania sem espelho.
A recente releitura expõe, mais uma vez, a lógica estrutural da branquitude no imaginário televisivo brasileiro. A escolha de transformar Odete — mulher branca, rica e originalmente marcada pela vilania e pelo preconceito de classe — em uma espécie de “mulher empoderada sem noção” não é apenas decisão estética, mas operação simbólica que reabilita o olhar branco e desloca o conflito central da narrativa.
Na nova versão, Raquel Accioli — mulher negra, trabalhadora, símbolo de dignidade e resistência na trama original — perde o protagonismo para uma personagem que antes representava o poder excludente e a elite preconceituosa. Essa inversão não é neutra: revela como a televisão brasileira insiste em recentralizar a branquitude, transformando figuras de opressão em mulheres “fortes”, “autênticas” e “malcompreendidas”, enquanto as personagens negras seguem sendo empurradas para papéis de suporte ou resistência.
Odete, que antes desprezava os “de baixo”, agora aparece como a mulher que “aceita” o amor do filho por uma moça negra — gesto retratado como ruptura, não como racismo velado. Esse deslocamento é, em si, uma forma de apagamento: ao retirar de Odete seu preconceito explícito, a narrativa dissolve a crítica ao racismo estrutural e oferece, em troca, uma mulher branca “inclusiva”, reconciliada e redimida.
Esse apagamento não é reparação simbólica — é defesa psíquica coletiva. A cultura, incapaz de confrontar sua própria sombra, mascara o racismo com representatividade. Como descrevem Singer e Kimbles (2004), os complexos culturais sobrevivem mesmo sob o verniz da consciência: apenas mudam de linguagem. Odete não deixou de ser o arquétipo da tirania; apenas passou a falar a língua do politicamente correto. A branquitude continua no centro — agora iluminada por um discurso de empatia.
Jung (2013) advertia que o mal precisa ser reconhecido para ser transformado; quando é negado, torna-se perigoso. Ao eliminar de Odete a crueldade explícita, a nova narrativa apaga o confronto simbólico entre poder e ética. O mal é domesticado, e o símbolo, desativado. A mulher que um dia encarnou a tirania agora representa o conforto do poder com culpa resolvida. O inconsciente coletivo respira aliviado: pode continuar o mesmo, sem precisar mudar nada.
Raquel Accioli: a heroína solar e o arquétipo da integridade
Na versão original de Vale Tudo, Raquel Accioli era mais do que protagonista — era o eixo moral da narrativa, a figura que resistia à degradação ética do mundo ao seu redor. Mulher trabalhadora, mãe batalhadora e empresária determinada, ela representava o arquétipo da heroína solar: aquela que ilumina sem negar a sombra, que enfrenta sem perder a alma, que transforma sem se corromper.
Raquel não era perfeita — mas era íntegra. Sua força não vinha da retórica, mas da ação. Ela não discursava sobre valores: ela os encarnava. Sua trajetória era marcada pela dor, pela luta e pela dignidade. E sua presença na trama funcionava como espelho ético para os demais personagens: enquanto muitos cediam à ambição, Raquel sustentava o vínculo com a consciência.
Em termos junguianos, Raquel expressava o feminino solar — aquele que age com clareza, mas sem apagar o afeto. Ao lado de Solange, que representava o feminino integrador, Raquel compunha uma constelação simbólica que oferecia ao público caminhos de elaboração psíquica. Enquanto Solange cuidava, Raquel enfrentava. Enquanto Solange unia, Raquel desafiava. Juntas, elas sustentavam a alma da narrativa.
Na nova versão, essa força simbólica se dilui. Raquel continua presente, mas sua jornada é suavizada, estetizada, convertida em narrativa de superação genérica. A mulher que antes enfrentava o sistema agora o contorna com elegância. O heroísmo ético dá lugar à competência emocional. E o que se perde nesse processo é a potência simbólica da resistência.
Mais grave ainda é o deslocamento de protagonismo. Raquel, que antes era o centro da trama, é empurrada para o papel de coadjuvante. A narrativa recentraliza o olhar branco, reabilita figuras de opressão e transforma a mulher negra em símbolo de resiliência — mas não de desejo, de contradição, de complexidade. A personagem que um dia encarnou a dignidade agora serve de apoio para a jornada de outras.
Raquel não era apenas uma personagem admirável — ela era uma figura mítica. Representava a possibilidade de manter a alma intacta num mundo que tenta comprá-la. E sua presença era um convite à reflexão: é possível vencer sem trair. É possível crescer sem corromper. É possível amar sem se perder.
É importante lembrar que, na versão original, Raquel Accioli era representada como uma mulher branca, trabalhadora e de origem modesta. Essa escolha refletia o imaginário televisivo dos anos 1980, em que o arquétipo da heroína ética — aquela que encarnava a honestidade, a coragem e a integridade — era quase sempre associado à branquitude e à classe média.
A mulher negra, embora presente na sociedade, raramente ocupava o centro simbólico da virtude ou da consciência moral.
Essa dissociação revela um complexo cultural brasileiro profundamente arraigado: a identificação inconsciente entre pureza e brancura, e a exclusão dos corpos negros do lugar de referência ética.
Na nova versão, ao reconfigurar Raquel como mulher negra, a narrativa toca em um ponto sensível e potencialmente transformador.
A possibilidade de ver a integridade, a força e o heroísmo moral encarnados em uma mulher negra poderia simbolizar uma reparação arquetípica — um gesto de integração da sombra histórica do país.
Entretanto, essa potência simbólica é neutralizada pelo modo como a personagem é construída.
O gesto de inclusão não se torna elaboração: é visual, não simbólico; estético, não psíquico.
A heroína negra é suavizada, estetizada, moldada ao discurso contemporâneo de superação e resiliência emocional, sem o mesmo peso trágico e ético que a personagem original sustentava.
O resultado é paradoxal: o inconsciente coletivo brasileiro parece desejar reparar a imagem, mas não o conteúdo.
A superfície muda, mas o arquétipo permanece o mesmo.
E quando o símbolo não é transformado, apenas adaptado, a cultura perde a oportunidade de integrar o conflito e ampliar a consciência.
Assim, o que se apresenta como reparação é, na verdade, uma reconciliação aparente — o gesto de uma sociedade que quer parecer curada, mas ainda teme se olhar.
Ao apagar sua centralidade, a nova versão não apenas altera a trama — ela altera o imaginário. E o que se perde, nesse processo, é a chance de ver a mulher negra como sujeito simbólico, como centro ético, como heroína. Raquel não precisava ser empoderada — ela já era poderosa. O que ela precisava era ser mantida no centro. E isso, a nova narrativa não soube sustentar.
Conclusão: A perda da função simbólica e o triunfo da persona
Vale Tudo (2025) não é uma nova versão — é uma desconstrução sem reconstrução simbólica. A autora não reeditou os personagens: ela os destruiu. E ao reconstruí-los, deixou apenas o esboço. O que antes eram figuras arquetípicas — densas, ambíguas, humanas — tornaram-se silhuetas narrativas, adaptadas à estética da correção. Afonso perdeu a consciência, Leila perdeu a sombra, Solange perdeu o vínculo, Odete perdeu o mal. O símbolo foi substituído pela persona. E a alma, pela imagem.
O que se vê é a regressão da função simbólica — essa capacidade da psique de criar imagens que unam consciente e inconsciente, elaborando tensões, revelando contradições, produzindo sentido (Jung, 2014). A arte, que poderia operar como função transcendente, foi capturada pela necessidade de aceitação. Nada mais perturba; tudo agrada. E o que agrada demais, psicologicamente, adormece.
A cultura contemporânea transformou a complexidade em ameaça. O mito nacional foi adaptado para caber nas exigências do discurso moral. E, nesse processo, o inconsciente coletivo deixou de ser espelho e tornou-se palco — um espaço de encenação, não de elaboração. Cada personagem representa uma defesa psíquica: consciência sem culpa, sombra sem perigo, feminino sem profundidade e poder sem responsabilidade. O drama se dissolve em didatismo, e a psique, em marketing.
A autora da nova versão inseriu temas contemporâneos — racismo, empoderamento, trauma, vício, diversidade — mas não os elaborou. Como tudo o que foi modificado, esses elementos foram esvaziados de sentido. Bebês reborn, vício no jogo do tigrinho, discursos sobre inclusão: tudo aparece como aceno à atualidade, mas não se transforma em conflito, nem em símbolo. Assim como vieram, foram embora. São tópicos, não mitos. E o esvaziamento de sentido faz parte da nova televisão: mais rápida, mais conectada, mas que pensa menos.
Essa lógica narrativa não é casual — é sintomática. Reflete uma cultura que teme o erro, evita o conflito e transforma o símbolo em produto. A televisão, que um dia foi espaço de elaboração coletiva, torna-se vitrine de virtudes. A função simbólica é substituída pela função publicitária. E o que se perde, nesse processo, é a alma da arte — aquilo que não pode ser dito, mas precisa ser sentido.
Como advertia Hillman (2010), quando o pensamento do coração é substituído pela linguagem da correção, a psique adoece de adaptação. Vale Tudo (2025) não é apenas uma novela — é o retrato de um tempo que prefere parecer transformado a se transformar. E, nesse retrato, o símbolo não fere, não inquieta, não revela. Ele apenas decora.
Quando o símbolo vira ornamento
Quando o mito se adapta demais, deixa de espelhar a alma. Vale Tudo (2025) não é apenas uma obra — é o retrato de uma sociedade que quer parecer lúcida sem se reconhecer doente. A persona venceu o símbolo, e o inconsciente coletivo aplaudiu. O mal foi cancelado, e com ele, o espelho. No lugar da verdade, resta a imagem. E a arte, que um dia curava, agora apenas entretém.
A televisão, que já foi espaço de elaboração simbólica, tornou-se palco de conveniências. O conflito foi substituído pela performance, o dilema pela estética, o mito pela narrativa publicitária. O símbolo, que deveria nascer do choque entre os contrários, foi domesticado pela linguagem da aceitação. E o que o substitui por conveniência é apenas ornamento.
A cultura que não suporta mais o erro também não suporta mais o símbolo. Porque o símbolo fere, inquieta, revela. Ele exige elaboração, não apenas consumo. E quando a arte deixa de ser espelho da alma para se tornar vitrine da persona, o que se perde não é apenas profundidade — é possibilidade de transformação.
Vale Tudo (2025) encerra não uma história, mas um ciclo simbólico. O ciclo em que o mito nacional foi convertido em produto, e a alma coletiva, em algoritmo de engajamento. O símbolo foi silenciado. E o silêncio, agora, é o que resta.
O símbolo autêntico nasce do choque entre os contrários; o que o substitui por conveniência é apenas ornamento.
Referências Bibliográficas
- Hillman, J. (2010). O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo. São Paulo: Cultrix.
- Jung, C. G. (2014). Tipos Psicológicos. Petrópolis: Vozes.
- Jung, C. G. (2014). Aion: Estudos sobre o simbolismo do si-mesmo. Petrópolis: Vozes.
- Jung, C. G. (2013). O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Singer, T., & Kimbles, S. L. (Eds.). (2004). The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society. London: Routledge.