
Raul Seixas: O Mito, o Homem e a Alquimia do Caos
Introdução
Há biografias que se contam com palavras. Outras, como a de Raul Seixas, só podem ser escutadas. Sua história se embrenha nas dobras do som, dos acordes dissonantes, das frases que mais parecem enigmas do que letras de música. A série sobre Raul não apenas narra sua vida: ela a canta. A costura narrativa se faz como um disco de vinil girando no tempo: as canções abrem portais, as imagens evocam mitos, os silêncios gritam. É pela escuta, não apenas do que foi dito, mas do que foi silenciado, gritado ou sussurrado que Raul se revela. Não como herói ou mártir, mas como figura atravessada por forças maiores do que ele mesmo. A série nos convida a essa travessia: da vida à lenda, da canção ao símbolo.
Raulzito não é apenas personagem de sua história: ele é também seu autor e sabotador. O menino que quis ser Elvis, o parceiro de Paulo Coelho nos delírios mágicos do inconsciente coletivo, o Maluco Beleza que carregava o peso dos deuses nos ombros frágeis de um homem em guerra consigo mesmo. A série não nos oferece um retrato linear – ela oferece um rito. Um ritual de passagem entre o artista e o mito, entre o sujeito ferido e o arauto do caos criador.
A estrutura da narrativa é conduzida por suas músicas. Estas são verdadeiros oráculos que anunciam, explicam e transbordam os acontecimentos. O que se vê na tela é menos um documentário do que uma travessia. Cada capítulo da série é também uma canção, e cada canção é um espelho: da infância ferida, da rebeldia inflamável, dos amores tumultuados, da embriaguez como anestesia e busca de transcendência.
Ao assistir, somos tomados não por fatos, mas por símbolos. Raul não se explica, ele se revela. E toda revelação carrega angústia, êxtase e contradição. Seus versos, cheios de oxímoros e parodoxos – “Eu devia estar contente porque tenho um emprego / Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês” – são mais que ironia: são diagnósticos clínicos de uma sociedade adoecida, de um ego desconectado de si.
Entre imagens de palco e trechos de entrevistas, o que emerge não é apenas um artista. É um espelho de época, um retrato afetivo de um país em contradição, e talvez, também, de nós mesmos. Porque escutar Raul é escutar o inconsciente pessoal, cultural e mítico. É reconhecer que, às vezes, o delírio é mais verdadeiro que a razão.
Neste texto, pretendo acompanhar a série como quem acompanha um mito em movimento. Cruzar os eixos da vida de Raul com os fundamentos da psicologia junguiana, especialmente aquela que vê no símbolo, no desejo e na dor as trilhas de individuação. Através das letras, das cenas, das ausências e dos colapsos, buscar a alma de Raul: não a alma biográfica, mas a alma arquetípica. Aquela que fala de todos nós.
A relevância de Raul Seixas no imaginário cultural brasileiro
Raul Seixas não foi apenas um cantor. Foi um acontecimento psíquico. Um desses raros artistas que não se limita ao campo da arte, mas transborda para o inconsciente coletivo como um sintoma; e, ao mesmo tempo, como uma chave. Ele mesmo disse, com clareza e espanto, em Pare o Mundo que Eu Quero Descer: “não sou apenas um cantor”. E não era. Em suas letras, há delírio e lucidez. Em sua figura, convivem o profeta e o bufão, o filósofo e o bêbado, o filho rebelde e o pai ausente. Ele habita esse lugar liminar onde o artista se transforma em mito – não por idealização, mas por intensidade simbólica. Talvez por isso ele não tenha sido só homem: foi imagem.
Como escreveu James Hillman,
“do ponto de vista de uma psicologia construída a partir da anima, o que estamos fazendo quando estamos profundamente engajados com a imaginação é, de fato, estético”
(HILLMAN, 2010, p. 53).
Raul, em sua entrega poética e visionária, fez do delírio uma forma de escuta e da música um modo de devolver imagens ao mundo. Seu pensamento era feito de coração — e por isso, de símbolo.
No Brasil do milagre econômico e da ditadura militar, da repressão moral e da promessa de consumo, Raul cantava o avesso: “eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável”, dizia com ironia em Ouro de Tolo, revelando o vazio por trás da imagem de sucesso. Enquanto muitos silenciavam por medo ou sobrevivência, ele escancarava: zombava da ordem, satirizava o progresso, tensionava os discursos prontos. Ele estava em posição de sucesso, mas não se via naquele sucesso, pois, para ele, sucesso era ser ele mesmo. Então, precisava deixar o emprego respeitável e cantar. “Cantar, tudo que vier na cabeça, cantar até que o dia amanheça”. Suas músicas não eram panfletos, mas espelhos – e o que devolviam era uma imagem nua, exposta, atravessada por contradições.
Sua irreverência não era apenas estilo, era linguagem do inconsciente. Na psicologia analítica, os símbolos são uma forma de comunicação com o inconsciente. O símbolo, então, não é apenas um ornamento da linguagem ou um artifício da metáfora – ele é o próprio caminho da alma. Quando lidamos com imagens simbólicas, estamos em contato com aquilo que escapa à apreensão racional, mas pulsa como sentido em formação. Como aponta Murray Stein,
“um símbolo é, no entender de Jung, o melhor enunciado ou expressão possível para algo que é ou essencialmente incognoscível ou ainda não cognoscível, dado o presente estado de consciência” (STEIN, 2012, p. 46).
Trata-se de uma abertura psíquica ao mistério – uma ponte entre a experiência emocional profunda e a possibilidade de elaboração subjetiva. O símbolo emerge, portanto, como expressão viva da alma em movimento, permitindo que o inapreensível se diga em imagens, afetos, sonhos e mitos. E Raul sabia disso, ainda que intuitivamente. Falava de moscas na sopa, de carimbadores malucos, de cowboys fora da lei e de metamorfoses ambulantes. Cada uma dessas figuras é um fragmento do nosso próprio espelho interior – partes rejeitadas, ridicularizadas ou esquecidas da psique coletiva.
É por isso que sua música resiste ao tempo. Porque ela não se refere apenas à conjuntura política ou social de sua época. Ela toca aquilo que é estrutural: o desejo de liberdade, a recusa da norma, a dor da inadequação, a solidão do excesso. Raul Seixas articula crítica social, existencialismo e espiritualidade popular; que são elementos que atravessam o pensamento filosófico, mesmo sem jamais perder o tom popular e poético.
Sua presença no imaginário brasileiro é múltipla. Para alguns, é o maluco beleza que zombava de tudo. Para outros, o místico que buscava a gnose no rock. Para muitos, é uma ferida aberta, um gênio que se perdeu. Mas talvez ele seja tudo isso ao mesmo tempo. Porque, como toda imagem arquetípica, Raul Seixas não cabe numa definição. Ele reverbera. Ele pulsa. Ele incomoda.
É esse lugar entre o riso e a vertigem que a série nos oferece. E é a partir desse lugar que este texto pretende caminhar: não pela linha reta dos fatos, mas pelas curvas da alma que canta.
Raulzito: o menino rebelde, o artista arquetípico
Raulzito nasceu antes de Raul. Ainda menino, já habitava um corpo inquieto e uma mente que sonhava mais alto do que a escola, a cidade ou o tempo permitiam. Seu desejo declarado de ser “o Elvis brasileiro” era mais do que um delírio infantil: era o prenúncio de uma vocação. Aquele garoto de Salvador não queria apenas cantar como Elvis. Queria encarnar algo: o brilho do palco, a transgressão do gesto, o erotismo da voz, a revolução estética que, sem saber, já ardia dentro dele.
Como todo artista arquetípico Raul começou por imitação, mas, não ficou nela. A persona de Elvis era o espelho onde ele se via, porém o reflexo que surgia já era singular. O artista, no fundo, dramatiza a busca por si mesmo. E Raul, desde cedo, intuía que autenticidade e escândalo muitas vezes caminham juntos. Sua rebeldia não era apenas contra os costumes; era contra a máscara, contra o conformismo, contra o que ele chamava de “sistema”.
Em sua juventude, Raul já exibia o traço do louco sagrado, figura presente nos mitos e nas cortes medievais – aquele que diz a verdade por meio da loucura. O bobo, o trickster, subverte a ordem, provoca risos que revelam o silêncio por trás das convenções. Sua estética já continha o caos criador: romper para revelar. Raul fazia da quebra de norma uma forma de existir, um modo de escancarar as fissuras da realidade.
Essa postura está presente em canções como Metamorfose Ambulante, onde rejeita coerência: “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. A mutabilidade é ética de existência: viver em trânsito, escapar da rigidez da persona.
Em Ouro de Tolo, ele satiriza a promessa burguesa: “eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável”. Mas o que era esperado, como sucesso e conformismo, revela-se vazio. Essa subversão paradoxal e poética desnuda a alma social.
Raul era menino e mago, bufão e visionário. Ao brincar com as máscaras, revelava verdades profundas da psique individual e coletiva. Na série, essa figura arquetípica já aparece: o menino Elvis, o rebelde, o louco. Um artista que nunca cabia em si mesmo, que vivia rompendo o molde, porque, talvez, a verdadeira vocação seja justamente essa: não se fixar, sempre metamorfosear-se.
As músicas como roteiro da alma
Raul entendia a estrutura que o cercava: a máquina da indústria fonográfica, a censura da ditadura, o moralismo da sociedade. E, em vez de fugir, ele a invadiu por dentro. Fez da canção popular uma arma simbólica: usou o rádio, os palcos, os contratos e os hits para distribuir mensagens de rebelião, ironia e transgressão. Cantava como quem escrevia entrelinhas em código – e o público, atento, decifrava. Sociedade Alternativa, Aluga-se, Eu Também Vou Reclamar, Ouro de Tolo, e tantas outras não foram apenas canções, foram dispositivos críticos que se infiltraram no sistema. Raul foi rebelde sem sair do mainstream, um infiltrado sorridente. E talvez aí resida sua genialidade política: lutar contra o sistema usando o próprio sistema como amplificador da ruptura.
Em Raul Seixas: Eu Sou, as músicas não são apenas trilha sonora. São roteiro. São chave de leitura, mapa psíquico, confissão cifrada. A narrativa não se organiza por datas, mas por canções. E isso não é uma escolha estética, é uma escolha simbólica. A trajetória de Raul é interpretada a partir de sua própria linguagem: as letras. É ali, entre um refrão e outro, que ele se revela com mais clareza do que em qualquer depoimento.
Cada música funciona como um portal arquetípico. Em Gita, Raul canta como quem encarna a voz do Self: “eu sou o medo do fraco, a força da imaginação”. É o ego confrontado pela vastidão do si-mesmo em um diálogo direto com o sagrado, com o todo, com a potência de ser tudo e nada. Como um Krishna tropical, Raul enuncia a totalidade de sua psique, em versos que transitam entre a onipotência e o vazio, a onisciência e a perda de identidade. Não é à toa que essa música marca a série como um clímax espiritual; é ali que Raul atinge sua expressão mais elevada e também mais perigosa.
Eu Sou Egoísta: liberdade e afirmação do sujeito
Em Eu Sou Egoísta, Raul Seixas não faz mera confissão, faz afirmação existencial.
“Eu sou estrela no abismo do espaço / O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço”
É um grito de autonomia que desconstrói a figura do ídolo como espelho de expectativas e devolve o controle ao sujeito. Aqui, o ego deixa de lado o julgamento moral para celebrar sua centricidade: “Eu sou egoísta, eu sou, por que não...”. É uma recusa simbólica aos “istas” — fascista, mista, simplista, antissocialista — que marcam o sistema que queria domar sua voz.
Essa música dialoga com a noção junguiana de persona – a máscara social – mas vai mais fundo: rasga essa máscara e reivindica o direito à singularidade incompleta e contraditória. Não é um chamamento ao narcisismo, mas um manifesto de liberdade interior. Ele responsável por seu próprio grito, sua própria estrada, sua própria espada: a guitarra.
Eu Sou Egoísta é o momento da canção como posse de si mesmo, o sujeito rebelde dizendo: não quero mais me adequar. É a ruptura final, a liberdade polida, a presença autêntica e, por isso, política e poética.
Maluco Beleza, por sua vez, é um manifesto contracultural. A figura do “maluco” não é um desvio, é uma posição simbólica. Ele é o outsider lúcido, o que vê demais, o que se recusa a adaptar-se. “Ser normal é uma ilusão”, Raul parece dizer em cada verso. Essa música elabora um ideal: o de uma existência fora da ordem, mas cheia de sentido – um sentido que só os desviantes compreendem. O louco, aqui, é o curador de uma sociedade adoecida.
Tente Outra Vez é, talvez, sua oração mais íntima. Ali, a rebeldia dá lugar à humildade. “Não diga que a vitória está perdida / Tenha fé em Deus, tenha fé na vida”. Raul, que tantas vezes satirizou o moralismo cristão, aqui toca um ponto profundo da espiritualidade arquetípica: a fé como persistência da alma, como força de continuidade diante da queda. É sua canção mais solar, mais compassiva – e a série a usa como ponto de ressurreição simbólica, quando tudo parece afundar.
Outras músicas seguem o mesmo caminho de revelação. Sociedade Alternativa não é só provocação libertária, é a criação de um mundo mítico, um Éden anárquico onde “fazer o que tu queres” é a única lei. Raul e Paulo Coelho convocam aqui uma espécie de ritual mágico, inspirado em Aleister Crowley, mas convertido em cultura pop. A canção não apenas critica o sistema, ela inventa outro.
Em As Profecias, Raul Seixas abre com uma melancolia inquietante que já revela a consciência angustiada de seu tempo Interior. Num verso que ecoa como um mapa emocional da solidão:
“Tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente;
Um dia daqueles sem graça, de chuva cair na vidraça;
Um dia qualquer sem pensar, sentindo o futuro no ar;
O tempo parece parado?”
É um desabafo ao mesmo tempo pessoal e universal. A música dramatiza uma sensação de paralisação existencial – o mundo externo aparentemente intacto, enquanto o eu interno se afasta. Sem amigos, com perguntas que pulsam no silêncio, sem tempo que avance. Esse prólogo funciona como chave da música: a premonição de um mundo que se desintegra, em que as “profecias” surgem não em formas grandiosas, mas na suspensão banal do cotidiano. Uma angústia que é nosso espelho coletivo e que a série mostra cintilando nas cenas mais silenciosas.
Algo semelhante ecoa em Canceriano Sem Lar, onde o título já carrega o paradoxo: o signo mais ligado à casa, à memória e ao afeto, expresso como desterro. Raul canta a dor de não ter onde ancorar; nem no mundo, nem em si.
Coisas do Coração nos revela um Raul amoroso, ferido, contraditório. Ele canta:
“Quando a gente se tornar rima perfeita / E assim virarmos de repente uma palavra só”. Essa fusão poética revela uma vontade de união tão profunda que beira a absorção de si e do outro. Nesse enlace ardente, o feminino é ao mesmo tempo espelho, alimento e risco: não sobra espaço para viver se os mundos se fundem. O poeta que se debate entre o desejo e o abandono, entre o afeto e a fuga. Já A Maçã, com sua imagem bíblica e provocadora, é a recusa da posse: “se este amor ficar entre nós dois / vai ser tão pobre, amor / vai se gastar”. O fruto proibido se transforma aqui em metáfora da liberdade afetiva e do amor que só é pleno quando não é contido.
Pare o Mundo que Eu Quero Descer e Medo da Chuva escancaram o esgotamento e a melancolia. A primeira é um pedido de pausa, de exílio, de não-pertencimento: “não sou apenas um cantor”, ele diz, como quem já carrega o cansaço do personagem que criou. A segunda é quase uma elegia à sensibilidade que não encontra abrigo: “Aprendi o segredo, o segredo / O segredo da vida / Vendo as pedras que choram sozinhas / No mesmo lugar”. É a dor do artista que sente demais. O segredo da vida talvez não esteja nas certezas, mas na capacidade de ver sentimento onde ninguém mais vê. Quando até as pedras choram, a alma aprende a escutar aquilo que o mundo insiste em calar. A dor transborda. Na clínica, esse verso ecoa como metáfora daquilo que muitas vezes vemos no silêncio dos pacientes: uma dor endurecida, sem nome, que parece já ter esquecido como chorar. Mas ali, mesmo nas defesas mais rígidas, nas ‘pedras’ da psique, ainda há umidade. Há afeto, há história, há possibilidade de contato. O segredo da vida, como canta Raul, talvez seja esse: permitir que até o que parecia inquebrantável possa enfim ser tocado pelo sentir.
Em Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, Raul se afirma como mito, como lenda, como memória coletiva encarnada. É a encenação do sábio errante, do eterno retorno. Em Trem das Sete, ele invoca a imagem do trem como veículo da morte simbólica, ou seja, o fim de um tempo e a passagem para outro plano de consciência.
Já em Metrô Linha 743, a travessia muda de tom. Aqui, o vagão é cárcere. A música é um protesto contra a máquina social que conduz sem perguntar, que impõe ritmo sem escuta, que arrasta corpos e esmaga singularidades. Raul denuncia o sistema com a imagem do cotidiano urbano: frio, repetitivo, impessoal. A “linha 743” é metáfora do status quo, essa força invisível que mantém tudo girando, sem que ninguém saiba exatamente para onde. A repetição do número reforça o automatismo. A luta de Raul aqui não é apenas contra o poder institucional: é contra o apagamento simbólico do sujeito. O metrô é o inferno moderno: subterrâneo, barulhento, veloz e vazio de sentido.
Esse mesmo espírito de denúncia simbólica aparece em Aluga-se. A canção, vestida de deboche, é uma radiografia crua da entrega do país ao mercado, da prostituição simbólica do território, da conversão da cultura em vitrine: “a solução pro nosso povo eu vou dar: negócio bom assim ninguém nunca viu / Aluga-se o Brasil”. Aqui, Raul é ácido, visionário – e também cansado. A nação virou produto. E o artista, testemunha. Em “Eu Também Vou Reclamar”, Raul encena uma crítica irônica não só ao mercado musical, mas ao próprio papel do artista como porta-voz das dores sociais. Ele ironiza o momento em que “ser do contra” virou produto, e a rebeldia foi assimilada pelo sistema como estética de venda:
“Pra vender disco de protesto / todo mundo tem que reclamar.”
Aqui, a queixa já não liberta, ela virou pose. Raul, consciente de sua posição inaugural (“eu fui o primeiro”), não se coloca acima dos demais, mas entra no jogo com lucidez melancólica: “eu também vou reclamar”. Ao assumir a reclamação como recurso, ele mostra o quanto até a dor virou espetáculo. No fundo, há um tom de exaustão: o artista está trancado no quarto, de pijama, cercado de absurdos cotidianos e manchetes surreais, num Brasil que não faz sentido nem no jornal nem no quintal.
“Dois problemas se misturam: a verdade do universo e a prestação que vai vencer.”
Raul denuncia a dissociação entre o sublime e o banal, o espiritual e o concreto. Um mundo onde a metafísica divide espaço com o boleto vencido, e o sujeito moderno está entalado entre a busca por sentido e o esvaziamento existencial. Não por acaso, ele termina afirmando:
“Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor.”
Aqui, o sujeito contemporâneo é reduzido à sombra de si mesmo: sem identidade, sem voz própria, colonizado em sua imaginação. A pergunta junguiana “quem sou, de onde venho, para onde vou?” ecoa, mas ninguém responde com verdade, apenas com “explicações” técnicas, frias, inúteis.
Já em “Aluga-se”, Raul leva o delírio às últimas consequências. A canção é uma sátira cruel à entrega simbólica do país ao capital estrangeiro, mas não apenas isso. Trata-se de uma metáfora do colapso da alma coletiva: “A solução é alugar o Brasil.” É o espírito nacional transformado em imóvel, em produto, em corpo disponível para uso. E mais: é o povo cantando com orgulho a própria rendição. O “nós” da música canta “nós não vamo pagar nada” como quem celebra uma vitória, mas o que há ali é a mais radical forma de alienação. A casa está sendo esvaziada, entregue e ninguém percebe o que está sendo perdido.
O que une as duas músicas é a consciência trágica de Raul sobre o processo de anestesiamento psíquico e social. Em uma, a crítica é íntima, reflexiva, existencial. Em outra, escrachada, coletiva, cômica. Mas ambas revelam a mesma ferida: o sujeito, seja ele indivíduo ou nação, perdeu o próprio eixo simbólico. Tornou-se objeto, produto, engrenagem.
Em “Eu Também Vou Reclamar”, vemos o artista como ego em crise, confrontado com sua persona esvaziada, num mundo sem sentido, onde tudo se explica, mas nada se vive. Em “Aluga-se”, assistimos à reificação da alma coletiva: o país como corpo prostituído, que se entrega ao estrangeiro sem resistência, a grande mãe vendida, o self desacreditado. Ambas podem ser lidas como expressões do que Jung chamaria de colapso da função simbólica: a incapacidade de atribuir sentido às experiências, resultando em vazio, cinismo e delírio.
Eu Também Vou Reclamar retoma esse tom, mas vira o espelho para o público. Raul ironiza a expectativa que pesa sobre o artista: que ele seja revolucionário, coerente, correto e ainda vendável. A crítica atravessa a indústria cultural e chega até nós.
Paranoia expõe o outro lado da moeda: o efeito psíquico desse mundo em colapso. O delírio, a perseguição, o medo, tudo é sintoma de uma mente que sente demais. Raul não simula loucura: ele canta a loucura social internalizada. O desespero de quem não encontra lugar onde a sensibilidade possa repousar.
Por fim, Canto para Minha Morte é testamento e epifania. Raul canta sua finitude com assombrosa lucidez. A letra é uma despedida, mas também um reconhecimento da vida como trajetória simbólica: “eu quero viver, eu quero existir, eu quero sair, eu quero entrar, eu quero sair”. É um movimento circular, como os ciclos do Self. A morte, aqui, não é fim – é passagem.
Pluct Plact Zum: a anarquia encantada
No meio de tantas canções densas, filosóficas ou existencialistas, O Carimbador Maluco parece, à primeira vista, apenas uma brincadeira infantil. Mas Raul, como todo trickster, sabia onde esconder o ouro: na leveza. É a infância como estado de liberdade, como potência anárquica. O espaço sideral é o inconsciente. E o foguete, é o veículo para romper os limites da realidade opressora.
Trata-se de uma pedagogia poética da liberdade. Uma forma de dizer às crianças (e aos adultos que as escutam) que o mundo não precisa ser quadrado, nem lógico, nem autoritário. Que é possível dizer “não” com rima. E que o absurdo, quando bem cantado, pode ser um grito político.
Pluct Plact Zum é anarquia para crianças. E, como toda boa anarquia, é profundamente séria; porque fala com a alma antes que a alma aprenda a obedecer.
A alquimia do excesso: drogas, álcool e destruição criadora
Toda alma que arde intensamente corre o risco de se consumir no próprio fogo. Raul Seixas foi feito dessa matéria inflamável: desejo, lucidez, vertigem. Seu corpo não sustentava o que sua alma insistia em expressar. A relação com o álcool e as drogas, presente na série como uma espiral de fuga e necessidade, não pode ser reduzida à moral da fraqueza. É preciso vê-la com os olhos da alma: como tentativa, mesmo desesperada, de lidar com o transbordamento simbólico da própria existência.
Raul nunca escondeu esse conflito. Ao contrário, ele o encenava. Subia ao palco embriagado de sentidos, de álcool, de verdades duras demais para se dizerem sóbrias. Em muitas performances retratadas, sua voz falha, mas a presença é brutalmente honesta. Há algo de trágico e sublime em sua entrega, como se a destruição fosse parte do processo criativo, como se fosse preciso se consumir para que algo maior se revelasse.
Raul dedicou-se de corpo e alma para a vida. O álcool era anestesia e ponte. Substâncias eram amplificação de consciência — e precipício. Elas não o transformavam — apenas permitiam que ele fosse mais ele. E isso, talvez, tenha sido demais para qualquer um suportar.
Em Medo da Chuva, ele canta sobre libertação: o medo da chuva (metáfora do afeto, da emoção) é vencido ao “ver pedras que choram sozinhas”. Essa cena simboliza o despertar emocional: mesmo o inanimado pode sentir e chorar, ferida ou compaixão. A música encena a superação de uma sensibilidade reprimida, em meio ao caos existencial.
No palco e na vida, Raul encarnava a poética do excesso. Suas falhas físicas, mostradas sem filtro, não eram fraqueza, mas consequência. Ele não foi apenas vítima do excesso. Foi alguém tentando transformar o caos interno em obra. O corpo falhava, mas a música seguia pulsando, com força quase cruel, dizendo: estou morrendo, mas ainda falo.
Há algo de Prometeu moderno em sua figura: aquele que ousou trazer o fogo — a lucidez, a transgressão, a verdade ardente — e pagou o preço. A série apresenta essa queda com dignidade e dor. Mostra como o dom de ver demais pode esmagar, e ainda assim gerar beleza.
Raul Seixas morreu várias vezes em vida: perdeu voz, palco, controle. Mas a cada morte simbólica, renascia em música. A destruição criadora era seu caminho: ferir-se, expor-se, cantar. Suas feridas eram reais, mas, ao cantá-las, tornavam-se portais – janelas abertas para o que é mais humano em nós.
A alquimia do excesso é essa: transformar sofrimento em símbolo. Raul não fugiu da dor, ele a moldou em som. E nos ensinou que, às vezes, o que nos destrói também nos revela.
Mulheres, filhas e o feminino: entre amor, ausência e sombra
A presença do feminino na trajetória de Raul Seixas é feita de excessos e de vazios, de encantamentos intensos e ausências dolorosas. As mulheres que cruzaram sua vida – amantes, esposas, parceiras criativas – aparecem na série como figuras ambíguas: ora musas, ora testemunhas de sua queda. Nunca decorativas. Sempre envoltas em tensão afetiva e descompasso emocional. A relação de Raul com o feminino parece marcada por desejo e dissolução, fascínio e fuga.
Não se trata de reduzir essas mulheres a coadjuvantes. Ao contrário: a série lhes dá voz, mostra como suas subjetividades existiram para além do artista. Mas o que Raul fez, ao longo da vida, foi muitas vezes performar um tipo de amor tão intenso que se tornava insustentável. Ele amava como quem cria, e, às vezes, como quem destrói.
Em suas canções, o feminino aparece sob formas diversas. Em Coisas do Coração, ele canta:
“Quando a gente se tornar rima perfeita / E assim virarmos, de repente, uma palavra só” – essa fusão poética revela uma vontade de união tão profunda que beira a absorção de si e do outro. Nesse enlace ardente, o feminino é ao mesmo tempo espelho, alimento e risco: não sobra espaço para viver se os mundos se fundem.
Já em A Maçã, o amor vira embate entre liberdade e posse: “se este amor ficar entre nós dois / vai ser tão pobre, amor / vai se gastar”. Há uma recusa da fusão, mas também um medo de se vincular de forma demasiada, como quem teme virar areia entre os dedos.
Em How Could I Know, o tom se torna mais confessional. Há culpa, fragilidade, arrependimento. Raul canta suas falhas não como quem se desculpa, mas como quem revela a própria impotência diante da complexidade dos afetos. O feminino, nesses momentos, é espelho daquilo que Raul não conseguia sustentar: cuidado, constância, intimidade.
Senti falta na série de uma música imprescindível e vou colocar aqui pelo simbolismo que ela tem: Ave Maria da Rua. Em Ave Maria da Rua, Raul Seixas faz uma ode à figura materna encarnada na vida comum. Mas é em outro verso dessa canção que sua súplica ganha forma de vulnerabilidade e confiança, quando canta:
“Segure a minha mão quando ela fraquejar / Não deixe a solidão me assustar”
Nesse apelo, vemos Raul menino e homem, artista e filho, colocando-se sob o cuidado de uma Mãe maior – uma que acolhe sua fragilidade e o sustenta no invisível. É uma invocação simbólica da Grande Mãe: aquela que, como sua própria mãe biológica, o amparava nos momentos mais sombrios da trajetória. Essa figura materna múltipla também se estende às mães de suas filhas, mulheres que, cada uma a seu modo, sustentaram fragmentos de sua humanidade em meio ao caos.
Ao unir Iemanjá, Maria e Cecília, Raul constrói um feminino arquetípico e plural: não o da devoção passiva, mas o da presença viva, compassiva, firme e misteriosa. Essa mãe não é só consolo: é abrigo, mas também espelho. Raul encontra nela o colo, mas também o reflexo daquilo que precisa encarar para não sucumbir. É ela quem o puxa do abismo — como tantas mulheres fizeram ao longo de sua vida — e quem canta com ele, mesmo quando a voz falha.
“Não estou cantando só, cantamos todos nós.
Mas cada um nasceu com a sua voz.
Pra dizer, pra falar, de forma diferente
o que todo mundo sente.”
Neste trecho final de Ave Maria da Rua, Raul reconhece que sua voz não é solitária, mas, parte de um coro invisível. Ele se assume como alguém que dá forma única ao que é coletivo, um médium sensível do sentir humano. Essa ideia dialoga com a função simbólica do artista, de forma a escutar através das imagens e metáforas. Raul afirma sua singularidade (“cada um nasceu com a sua voz”), não como vaidade, mas como serviço. Ele canta o que todos sentem, mas com sua melodia, sua dor, sua verdade. Ave Maria da Rua torna-se, assim, não só uma oração, mas também uma confissão de ofício poético.
Assim, Ave Maria da Rua se torna uma oração não à santidade idealizada, mas à potência real do cuidado feminino. E a série nos mostra, em silêncio e imagem, que essa mãe esteve sempre por perto – nas esquinas, nas cartas, nas memórias e nas canções.
Mas há uma figura que parece atravessar tudo com outra tonalidade: a filha. A presença das filhas de Raul, especialmente vivida sob a sombra do abandono, introduz um tipo diferente de dor. Não mais o drama passional, mas o vazio da ausência. A paternidade não foi, para Raul, um território plenamente habitado. E talvez por isso mesmo, carregue tanto peso simbólico: o homem que foi filho de um tempo, mas não conseguiu ser pai do seu próprio tempo. A série trata isso com delicadeza – sem julgamento, mas também sem mitificação.
Senhora Dona Persona: a persona que consome seus próprios filhos
Em No Fundo do Quintal da Escola, Raul Seixas canta: “Não sei onde eu tô indo / Mas sei que eu tô no meu caminho”
Esse verso ecoa como uma travessia interior: Raul não sabia exatamente quem era, mas sentia que estava se tornando algo. Sua persona não era apenas um papel social: era um pedaço vivo de sua busca por identidade, um fragmento misturado de Self e de performance. Como se a máscara que usava para sobreviver também fosse parte verdadeira de quem ele era.
Mas isso tinha um custo. Em Senhora Dona Persona, Raul confessa: “Não tire mais um filho de mim”
A persona que lhe dava voz, palco e coragem agora aparece como entidade que o priva do mais essencial: o vínculo com as filhas. A máscara se tornara senhor. A canção é uma carta ao feminino, mas também àquela parte de si que se confundiu com a imagem criada: o artista incontrolável, o boêmio genial, o homem que tudo podia, menos permanecer.
Essa figura, metade persona e metade desejo de Self, acabou por afastá-lo da ternura e da intimidade. O “filho” perdido é mais do que uma metáfora: é a dor concreta de não estar presente. O trecho, repetido como lamento, é também uma confissão psíquica: eu não sei como sair disso, mas sei que doeu.
A persona, quando não atravessada pela consciência, torna-se ditadora da alma. Raul a viveu como caminho, mas também como maldição. Sua música reconhece esse paradoxo: a mesma energia que o elevou o distanciou do que mais precisava. Senhora Dona Persona é, portanto, uma oração e um pedido de resgate.
Podemos dizer que o feminino na vida de Raul foi força e falha. A energia do vínculo amoroso atravessa sua obra como uma necessidade e como uma ameaça. O artista que tanto desejava liberdade talvez não soubesse o que fazer com a intimidade. O homem que se fazia inteiro no palco, esfarelava-se nas rotinas do cotidiano.
Há, também, a sombra do feminino: a incompreensão, o ciúme, a idealização. Raul – como muitos homens de seu tempo – se debatia entre o desejo de ser amado e o medo de se perder nesse amor. A série nos mostra isso não como falha moral, mas como material humano: frágil, contraditório, real.
No fim, as mulheres e filhas de Raul Seixas não são parte lateral de sua biografia. Elas são parte do espelho. São o outro lado do artista: aquele que ama, que fere, que falta, que deseja mais do que pode dar. O feminino, em sua trajetória, foi desejo, confronto, poesia, abismo. E talvez, como tudo em Raul, tenha sido também um pedido de perdão que virou canção.
O legado simbólico de Raul Seixas
Raul Seixas não morreu em 1989. Ou, se morreu, não parou de renascer desde então. Seu corpo pode ter cedido, mas sua imagem se fragmentou em tantas outras que hoje nos habitam: o rebelde, o visionário, o bufão, o messias, o marginal iluminado. Seu legado não é apenas musical, é simbólico. Raul Seixas permanece como presença psíquica, como sintoma cultural, como arquétipo ativo no imaginário brasileiro.
A série deixa isso claro: Raul não é contado, é invocado. Seu rosto aparece multiplicado em discos riscados, em vídeos granulados, em vozes que o repetem com amor e contradição. Sua memória não se fixa em monumentos, mas vive nas frestas: em frases pichadas nos muros, em tatuagens, em adolescentes que ainda hoje descobrem Metamorfose Ambulante como se fosse um evangelho pop. E talvez seja.
Raul tornou-se uma espécie de espelho nacional. Um espelho torto, sujo, mas profundamente verdadeiro. Ele nos revela, na nossa rebeldia e na nossa apatia, no nosso desejo de liberdade e na nossa tendência à fuga. Cantou o Brasil que sonha, mas também o que se vende. Cantou a alma dividida entre o querer e o não saber querer. “Eu também vou reclamar” — e quem não quer?
Seu legado simbólico está também no modo como ele escancarou o dilema entre persona e essência. Entre o artista e o homem. Entre o mito e o cansaço. Raul não tentou parecer coerente: tentou sobreviver ao excesso de si mesmo. E isso é mais raro do que parece. Seu rastro é o de quem não disfarçou o fracasso, nem editou a dor. De quem não separou luz e sombra, mas fez da contradição uma assinatura.
Raul era símbolo de uma alma em combustão. Seu corpo já não bastava para conter a intensidade do que lhe atravessava – era preciso cantar, berrar, colapsar, renascer. Não à toa, a música não era para ele apenas performance ou discurso: era expressão viva de um mundo interior em ebulição. Como escreveu James Hillman, “o mundo é um lugar de imagens vivas, e nosso coração é o órgão que nos diz isso” (HILLMAN, 2020, p. 23).
O coração, para Hillman, é também o lugar das imagens; uma sede simbólica da imaginação, onde a alma pulsa em forma viva. É ali que as imagens se formam, não como alegorias, mas como realidades psíquicas. Raul, nesse sentido, parece ter vivido com o coração aberto demais: tudo o atravessava em excesso – o mundo, a dor, a contradição, o amor, o álcool. Tudo nele se tornava som, letra, imagem viva.
Se, como afirma Hillman, a reflexão verdadeira é a que ocorre no coração, e “o coração animal é aquele que indica o sol animal lá, num mundo animado” (HILLMAN, 2020, p. 23), então Raul era esse coração, encarnado e inflamado. Um coração que carregava em si não apenas sua história pessoal, mas a memória de um país dilacerado por censura, desigualdade e silêncio.
Talvez por isso sua arte resista ao tempo. Porque Raul não buscava ensinar, ele vivia. E ao viver em carne viva, fazia da própria vida um canal por onde a alma coletiva podia se expressar. Pode-se dizer, com inspiração em Hillman, que Raul foi a alma cultural de um tempo em forma encarnada, não como citação literal, mas como leitura simbólica de sua figura arquetípica.
E Raul, em sua desordem lúcida, dizia o que o Brasil ainda não sabia dizer de si. Sua obra é um inconsciente coletivo musicado, e é por isso que permanece. Porque as perguntas que ele deixou não envelhecem: “De onde eu venho?”, “Quem eu sou?”, “Onde eu vou dar?”
O Raul que sobrevive não é só o cantor das rádios. É o mito que se reinventa em cada geração. É o símbolo daquilo que se nega a caber no mundo. Porque “eu já falei sobre disco voador”, e mesmo assim ninguém acreditou. Porque “eu já avisei, só por avisar”, e o aviso virou semente. Porque “eu já falei da metamorfose que eu sou”, e mesmo quem zombou se viu mudando. Raul não precisava provar mais nada – por isso, no fim, “agora vou cantar por cantar”. Cantar era sua forma de resistir, de existir, de atravessar.
O trem das sete ainda passa, e o moço do disco voador me levará por onde for. O bilhete de entrada continua sendo o mesmo: escutar, de verdade, o que canta o inconsciente. E se permitir partir – nem que seja só por uma música.
E, como ele diz em “é fim de mês”: E fim de papo.
Bibliografia
GLOBOPLAY. Raul Seixas: Eu Sou [série documental] Brasil: 2025.
JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 12. ed. rev. Petrópolis: Vozes, 2020.
JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. 11. ed. rev. Petrópolis: Vozes, 2020.
HILLMAN, James. O pensamento do coração e a alma do mundo. Petrópolis: Vozes, 2010.
RAUL SEIXAS. Discografia completa. Letras e gravações disponíveis em: www.vagalume.com.br
STEIN, Murray. O mapa da alma segundo Jung. Tradução de Cássia Zanon. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
Suzana M C Ohlsen
Estou aplaudindo de pé aqui, Vivi. Você arrasou demais…eu já tinha amado essa série, e agora mais ainda com esse texto que me trouxe tanta informação e insights…Estou esperando seu livro dentro em breve. Escreve muito! Parabéns!







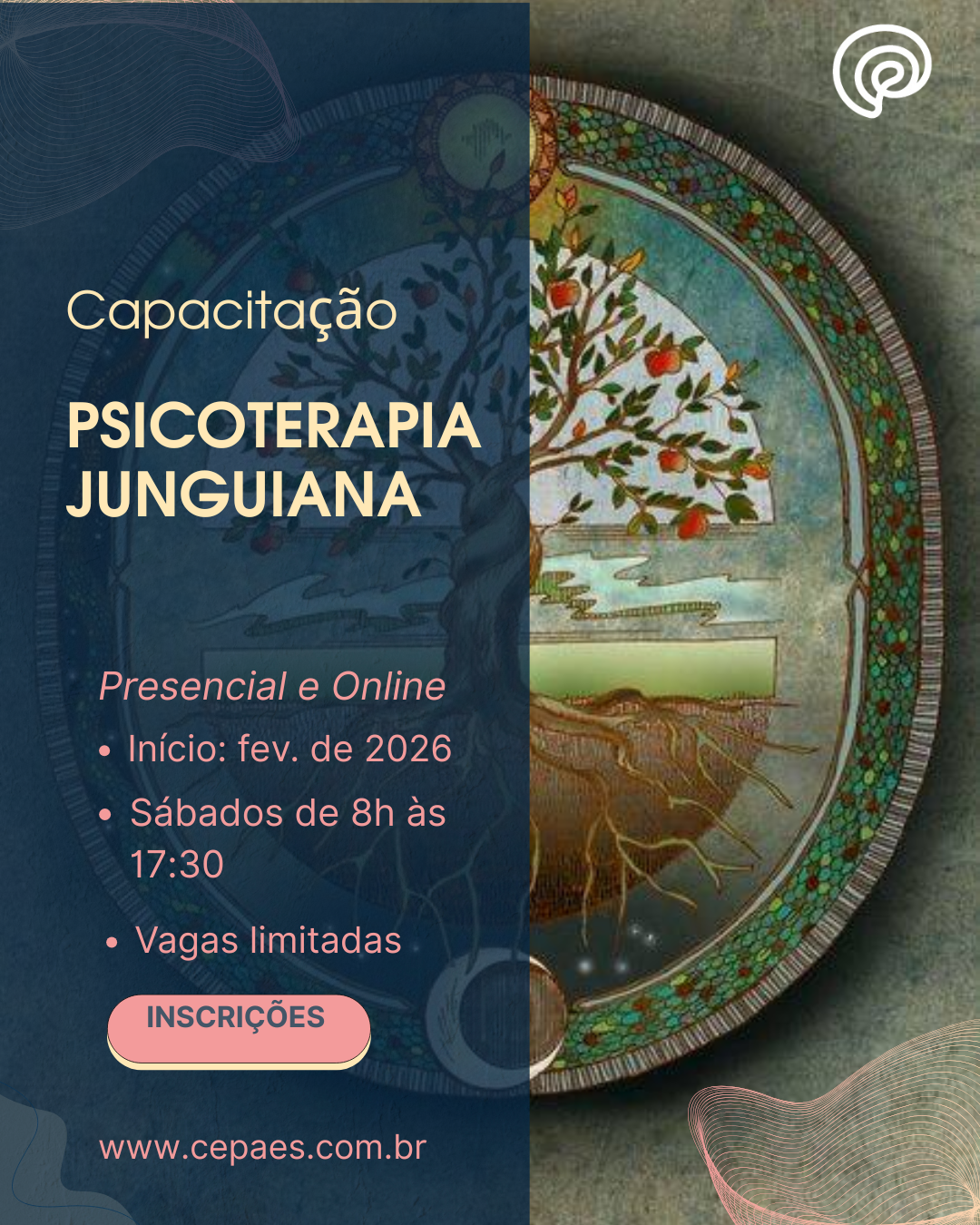


1 comentário