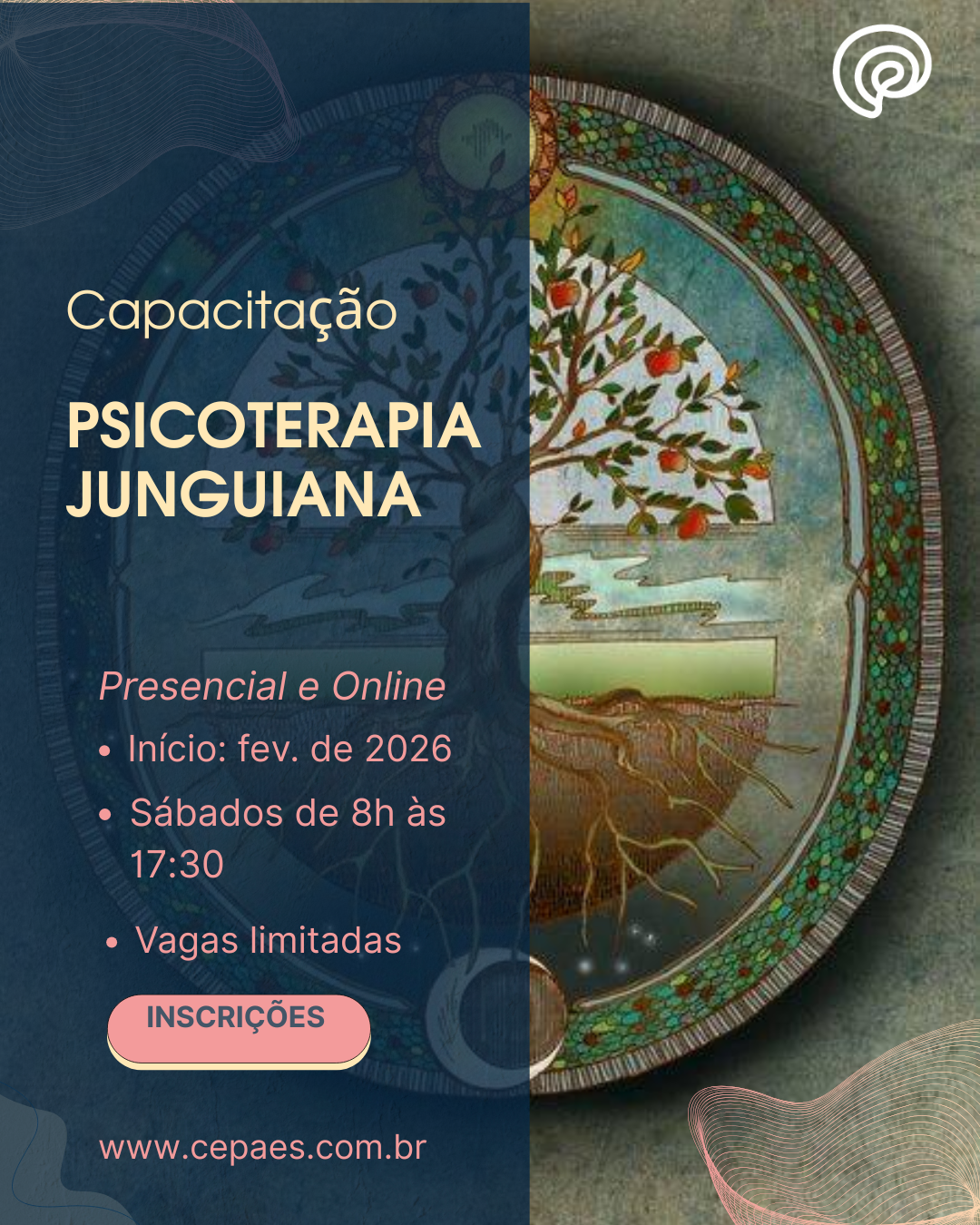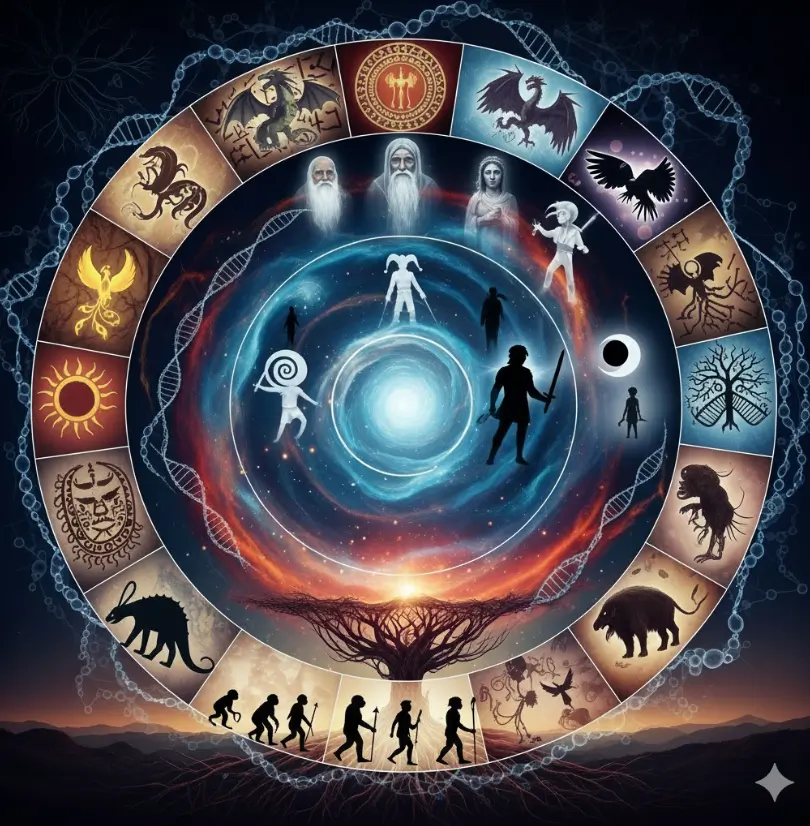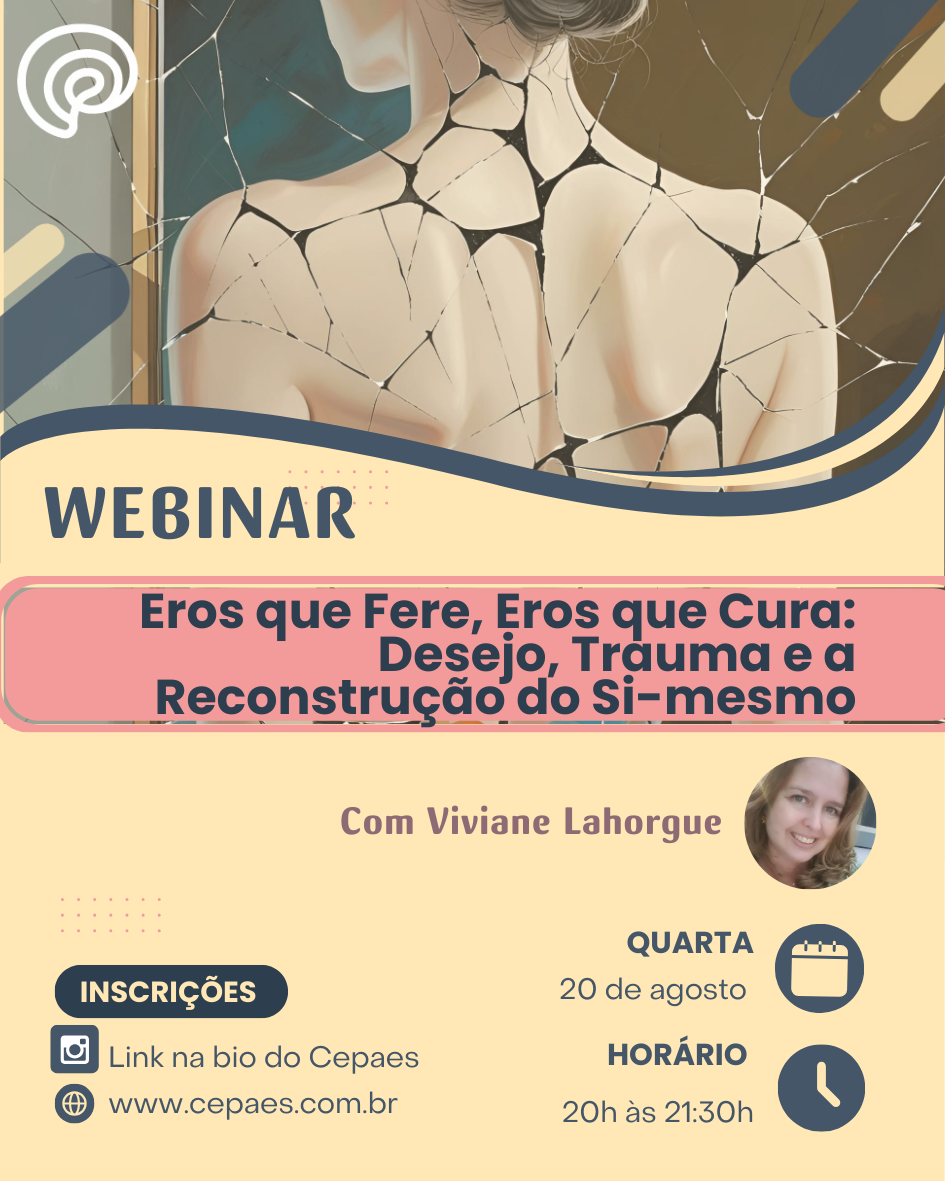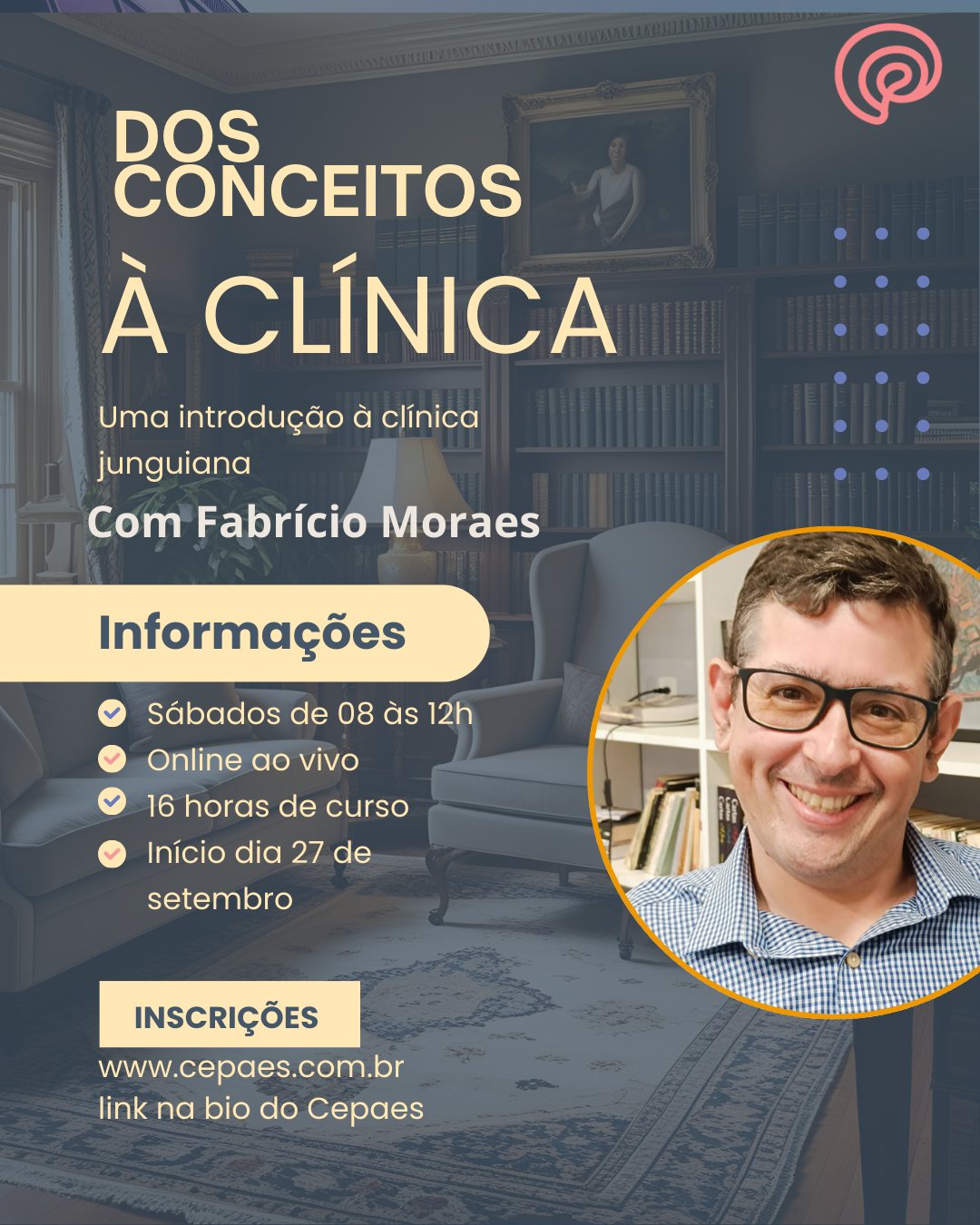O Medo e a Ansiedade na Clínica
Esse texto nasceu do Amplificando Jung apresentado por Fabrício Moraes em 13/09/2025, em Vitória, um evento presencial que ocorre regularmente em um espaço para trocas, para encontros, para literalmente amplificarmos o que Jung nos trouxe em termos de teoria e para aplicabilidade clínica.
Resumo
O presente artigo propõe uma reflexão sobre o medo e a ansiedade na clínica junguiana, considerando sua dimensão arquetípica, complexual e relacional. Partindo das contribuições de Jung, Fordham, Winnicott, Kalsched e Grotstein, discute-se como o apego seguro constitui a base para a formação do ego e para o desenvolvimento da personalidade. O medo, compreendido como guardião da fragilidade e da vulnerabilidade humanas, manifesta-se através dos complexos, articulando imagens, memórias e afetos que moldam a experiência subjetiva. A superproteção, a educação para o medo e os traumas precoces são analisados como fatores que influenciam a configuração defensiva da psique. Na prática clínica, a relação transferencial e a continência constituem o espaço no qual o paciente pode reviver e ressignificar suas experiências de apego, elaborando conteúdos inconscientes e fortalecendo o ego. Defende-se que o manejo do medo e da ansiedade não se reduz à supressão de sintomas, mas implica simbolização, integração e amadurecimento psíquico. Conclui-se que a clínica junguiana, ao valorizar a dimensão simbólica do sofrimento, oferece um horizonte transformador, no qual medo e ansiedade deixam de ser apenas sinais de vulnerabilidade para se tornarem vias de abertura e crescimento.
Palavras-chave: psicologia analítica; medo; ansiedade; apego; trauma; clínica junguiana.
Introdução
O medo e a ansiedade são experiências universais que atravessam a condição humana. Presentes desde os primórdios da vida, constituem respostas psíquicas e somáticas diante da vulnerabilidade, da imprevisibilidade e do desconhecido. Na perspectiva da psicologia analítica, essas manifestações não podem ser reduzidas apenas a sintomas, mas devem ser compreendidas como expressões simbólicas do encontro entre o ego, o self e o ambiente.
Carl Gustav Jung, já nos seus primeiros estudos sobre os complexos, sublinhou a centralidade do afeto como núcleo organizador da psique (JUNG, 1907/2013, OC 2). O complexo, definido como “imagem de uma determinada situação de carga afetiva” (OC 2, §1352), revela como memórias e emoções se entrelaçam em padrões recorrentes de vivência, tornando o medo não apenas uma reação imediata, mas também uma forma estruturante de experiência.
Autores pós-junguianos ampliaram essa compreensão. Michael Fordham enfatizou a importância das primeiras experiências de apego e da dinâmica de deintegração e reintegração para a constituição do ego. Donald Winnicott, em diálogo com essa perspectiva, destacou o papel do ambiente suficientemente bom no desenvolvimento emocional primitivo. Donald Kalsched evidenciou como o trauma precoce impacta profundamente o psiquismo, instaurando sistemas defensivos que buscam preservar a integridade do self infantil.
Na clínica, o medo e a ansiedade se apresentam como experiências ligadas tanto à história pessoal quanto à dimensão arquetípica e cultural. A relação terapêutica torna-se, nesse sentido, um campo privilegiado para o reencontro com conteúdos não simbolizados, oferecendo ao paciente um espaço de continência, ressignificação e fortalecimento do ego. Como ressalta Grotstein (2007), a atitude analítica de rêverie permite que os afetos inconscientes sejam recebidos e transformados em material psíquico elaborado, em vez de permanecerem como descargas aterradoras ou defesas rígidas.
Diante disso, este artigo propõe discutir o medo e a ansiedade na clínica junguiana em quatro eixos: (1) apego seguro e constituição do ego; (2) medo, complexos e desenvolvimento; (3) trauma, defesas afetivas e relação terapêutica; e (4) manejo clínico da ansiedade e do medo. O objetivo é articular fundamentos teóricos e implicações clínicas, mostrando como a psicologia analítica pode ampliar a compreensão e o manejo dessas experiências, não como meros sintomas, mas como caminhos de amadurecimento.
Apego Seguro e Constituição do Ego
O desenvolvimento do ego está intrinsecamente relacionado às experiências iniciais de apego e ao ambiente que a criança encontra ao nascer. Michael Fordham (1957/1994), em sua teoria do self infantil, introduziu os conceitos de deintegração e reintegração como processos fundamentais: o self, desde o início da vida, se expande em direção ao ambiente e retorna a uma integração mais complexa à medida que a experiência é metabolizada. Nesse movimento, a constituição do ego saudável depende da possibilidade de a criança encontrar um ambiente suficientemente responsivo que suporte sua fragilidade inicial e possibilite a reintegração dos conteúdos emergentes.
D. W. Winnicott (1965/2001), em diálogo com esse pensamento, enfatizou a noção de ambiente suficientemente bom. Para o autor, a experiência de cuidados sensíveis e ajustados às necessidades do bebê permite a constituição de um self verdadeiro, em contraste com o desenvolvimento de defesas prematuras que levam ao falso self. Esse ambiente não precisa ser perfeito, mas suficientemente confiável para sustentar as primeiras experiências de continuidade de ser.
Do ponto de vista da psicologia analítica, o apego seguro pode ser compreendido como a base que possibilita a constituição de um ego integrado em relação dinâmica com o self. Como aponta Jung (1921/2013), o eu não é o centro da psique, mas apenas um complexo entre outros, que adquire coesão em função da relação com o self. Assim, um vínculo inicial que ofereça continência e previsibilidade permite que o ego se forme não como estrutura rígida, mas como função mediadora entre mundo interno e externo.
Na clínica, a importância dessa perspectiva se revela no modo como a relação transferencial pode recriar a experiência de apego. A transferência, quando sustentada com continência e presença analítica, abre espaço para que o paciente experimente novamente a possibilidade de confiar em um outro e, a partir disso, elaborar feridas e reorganizar defesas. Grotstein (2007, p. 53) descreve esse processo como um estado de rêverie, no qual o analista se torna receptivo às emoções inconscientes do paciente, oferecendo um campo no qual novos sentidos podem emergir.
Desse modo, o apego seguro não é apenas um conceito do desenvolvimento infantil, mas também uma realidade continuamente atualizada no espaço clínico. A relação terapêutica pode funcionar como ambiente reparador, onde defesas cristalizadas cedem lugar a experiências mais fluidas de confiança, possibilitando ao ego se fortalecer e se abrir à simbolização.
Medo, Complexos e Desenvolvimento
O medo é uma experiência constitutiva da existência humana. Como expressa Carlos Drummond de Andrade em seu poema O Medo, “faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma”. A poética drummondiana revela como o medo se infiltra nas tramas da vida cotidiana, cristalizando-se em formas de viver, sentir e se relacionar. Mais do que um afeto passageiro, ele se torna uma moldura que acompanha o sujeito desde as primeiras experiências relacionais até a construção cultural e coletiva da realidade.
Na psicologia analítica, o medo se apresenta de maneira privilegiada através dos complexos. Estes são constituídos pela correlação entre imagem, memória e afeto, e ganham força justamente pela tonalidade emocional que carregam. Na clínica, reconhece-se que as experiências precoces — de abandono, superproteção ou insegurança parental — podem formar complexos que organizam a percepção do mundo. Como foi destacado na apresentação, “fomos educados para o medo”: o medo dos pais, a ansiedade transmitida no cuidado, a vivência de superproteção. Essas experiências se convertem em matrizes complexuais que delimitam as possibilidades de expansão do ego e, ao mesmo tempo, restringem a espontaneidade diante do novo.
A dimensão cultural amplia esse horizonte. O medo não é apenas individual, mas também coletivo e arquetípico. Complexos culturais atravessam gerações e moldam modos de ser, como no exemplo das narrativas que instruem as mulheres a temer o “urso da floresta” ou o homem ameaçador. Essas imagens coletivas tornam-se símbolos condensados de experiências de perigo e de limites impostos pela cultura, reiterando o medo como herança e como dispositivo de controle.
Se, por um lado, o medo pode cristalizar-se em formas de repetição e paralisia, por outro, contém também uma potência de abertura. Ele denuncia a ausência de repertório e a incapacidade adaptativa frente a novas experiências, mas pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento simbólico. O medo convoca o sujeito a simbolizar e a encontrar recursos internos e relacionais para lidar com a realidade. Nesse sentido, o medo não é apenas obstáculo, mas também convite ao amadurecimento. Quando nomeado e acolhido, o medo deixa de ser apenas um fundo aterrador e pode se transformar em oportunidade de amadurecimento psíquico e expansão do ego.
Trauma, Defesas Afetivas e Relação Terapêutica
Ao investigar a clínica do trauma, Donald Kalsched (2013) descreveu que, diante de experiências insuportáveis, o psiquismo aciona defesas afetivas arcaicas. Inicialmente protetoras, tais defesas transformam-se em sistemas rígidos que isolam a dor, mas também aprisionam a vitalidade. Essa dinâmica explica porque muitos pacientes permanecem presos a fantasias persistentes de abandono ou humilhação, repetindo padrões de apego inseguros que limitam o potencial de simbolização e de crescimento.
Nesse contexto, a clínica junguiana compreende que a repetição de padrões defensivos e de vínculos de apego inseguros não é mero acaso, mas uma tentativa inconsciente de manter o sujeito protegido contra novas ameaças. A consequência é a criação de realidades internas rígidas, marcadas por medo, controle excessivo e dificuldade em simbolizar experiências de dor. Como foi discutido na apresentação, muitos pacientes trazem consigo fantasias persistentes de abandono ou de humilhação, derivadas de situações traumáticas que, não podendo ser simbolizadas na infância, se perpetuam como imagens inconscientes que assombram a vida adulta.
A relação terapêutica, entendida como espaço de confiança e co-criação, torna-se o cenário no qual experiências traumáticas podem ser revisitadas. O analista sustenta afetos e fragmentos de memória que, antes intoleráveis, encontram agora um lugar para serem experimentados.
Thomas Ogden (1994) e James Grotstein (2007) destacam a importância da atitude de rêverie, entendida como a capacidade do analista de permanecer receptivo ao material inconsciente do paciente, sem antecipar interpretações prontas. Como lembra Grotstein, a interpretação só é verdadeira quando surpreende tanto o paciente quanto o analista, pois nasce da experiência viva no encontro. Assim, mais do que técnica, o essencial é a disposição relacional: o analista deve estar presente, autêntico, capaz de acolher e simbolizar junto ao paciente.
Dessa forma, o trauma, ao ser reinscrito na relação analítica, pode perder seu caráter aterrador e encontrar expressão simbólica. A possibilidade de nomear e simbolizar conteúdos antes dissociados promove um movimento de reorganização das defesas e fortalecimento do ego, permitindo maior liberdade diante da própria história.
Manejo Clínico da Ansiedade e do Medo
O manejo clínico da ansiedade e do medo não pode ser reduzido a um conjunto de técnicas destinadas à supressão de sintomas. A psicologia analítica compreende que tais manifestações são expressões do sofrimento psíquico e, portanto, exigem simbolização, integração e fortalecimento do ego. Como foi destacado na apresentação, o objetivo não é blindar o paciente contra o medo, mas criar condições para que ele se torne suportável e elaborável dentro de um processo relacional.
No manejo clínico, mais do que interpretar, importa criar uma atmosfera de segurança que permita ao paciente reconhecer e nomear seus medos. Essa atmosfera se constrói tanto na escuta quanto em recursos práticos, como exercícios respiratórios e atenção ao corpo, que ampliam a sensação de enraizamento.
Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer que o terapeuta também é atravessado por medo e ansiedade. O receio de falhar, de não estar à altura da dor do paciente ou de ser rejeitado pode atuar silenciosamente na contratransferência. Nesses momentos, o analista precisa voltar-se para si mesmo e sustentar sua própria ansiedade, para que ela não transborde na relação. Como lembra Grotstein, mais importante do que “o que se diz” é “quem se é” diante do paciente. A autenticidade do analista, ao lidar com suas próprias fragilidades, torna-se recurso clínico poderoso.
No campo prático, técnicas como exercícios respiratórios, atenção ao corpo, arteterapia e atividades físicas podem ser incorporadas, desde que não substituam o trabalho simbólico. Essas práticas ampliam a sensação de segurança interna, favorecem a regulação fisiológica e oferecem recursos complementares ao processo analítico. No entanto, só se tornam efetivas quando integradas ao contexto relacional que dá sentido às experiências.
Assim, o manejo clínico do medo e da ansiedade implica mais do que aliviar o sintoma: trata-se de criar condições para que o paciente encontre em si mesmo novos modos de viver com suas fragilidades. O medo deixa de ser um inimigo a ser eliminado e passa a ser reconhecido como parte da condição humana, um afeto que pode ser nomeado, simbolizado e integrado. O resultado não é ausência de medo, mas maior liberdade diante dele.
Conclusão
O medo e a ansiedade, quando observados a partir da clínica junguiana, revelam-se como experiências estruturantes da vida psíquica. Longe de serem apenas sintomas a eliminar, eles funcionam como sinais da vulnerabilidade humana e da necessidade de simbolização. Desde as primeiras experiências de apego até os complexos que se formam ao longo da vida, esses afetos se inscrevem como matrizes que organizam a relação do sujeito consigo mesmo, com o outro e com a cultura.
Apoiada em autores como Winnicott, Fordham, Kalsched e Grotstein, a reflexão proposta neste trabalho mostra que a clínica se constrói sobretudo na relação. É no espaço transferencial, sustentado pela continência do analista, que o paciente encontra condições para revisitar traumas, dar forma a fantasias aterradoras e transformar defesas que antes serviam apenas à sobrevivência. Nesse processo, a interpretação, longe de ser uma aplicação técnica, ganha sentido quando nasce da experiência viva entre paciente e analista, surpreendendo ambos e abrindo novas possibilidades de significado.
O manejo clínico do medo e da ansiedade exige, portanto, mais do que protocolos de intervenção: requer presença autêntica, disponibilidade para acolher e capacidade de oferecer simbolização. Cabe ao analista também reconhecer seus próprios medos e ansiedades, pois a forma como lida com eles repercute diretamente na relação terapêutica.
Assim, o medo e a ansiedade não precisam ser vistos apenas como obstáculos. Quando acolhidos e simbolizados, podem se tornar vias de crescimento e de abertura para uma vida mais criativa e significativa. A clínica junguiana, ao valorizar essa dimensão simbólica, mostra que é possível transformar fragilidade em potência, convertendo o medo em caminho para maior inteireza psíquica.
Referências Bibliográficas
DRUMMOND DE ANDRADE, C. O Medo. In: ____. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.
FORDHAM, M. Explorations into the Self. London: Karnac Books, 1994 [1957].
GROTSTEIN, J. S. A Beam of Intense Darkness: Wilfred Bion’s Legacy to Psychoanalysis. London: Karnac Books, 2007.
JUNG, C. G. Estudos experimentais (1907). In: ____. Obras completas, v. 2. Petrópolis: Vozes, 2013.
JUNG, C. G. Tipos psicológicos (1921). In: ____. Obras completas, v. 6. Petrópolis: Vozes, 2013.
KALSCHED, D. Trauma and the Soul: A Psycho-Spiritual Approach to Human Development and its Interruption. London: Routledge, 2013.
OGDEN, T. Subjects of Analysis. London: Karnac Books, 1994.
WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001 [1965].