
Autoestima, Dignidade e Vergonha: As Raízes do Valor Pessoal
Esse texto nasceu do livro A Vergonha e As Origens da Autoestima, de Mario Jacoby, que utilizamos no Grupo de Estudos Desenvolvimentistas.
A vergonha como guardiã da dignidade
A autoestima não emerge como dádiva espontânea nem é construída unicamente pela força de vontade individual; ela brota do campo relacional primário, enraizando-se nas primeiras experiências de cuidado, reconhecimento e sintonia afetiva — ou, inversamente, nos vazios deixados por rejeição, negligência ou desqualificação. No terceiro capítulo de A vergonha e as origens da autoestima, Mario Jacoby ilumina a dignidade como núcleo vivo do sentimento de valor pessoal, mostrando que a vergonha, em sua função originária, não é apenas sintoma de inadequação, mas mecanismo psíquico que regula e sustenta a autoestima.
A ansiedade de vergonha atua, nesse sentido, como sentinela que protege os contornos da integridade:
“A ansiedade decorrente da vergonha põe-nos em guarda contra comportamentos ‘indignos’, sensibilizando-nos para pressentirmos se determinado evento será experimentado como ‘degradante’ ou não” (Jacoby, 2023, p. 111).
Essa sensibilidade, de fundo arquetípico, preserva a dignidade como um sentimento de enraizamento no valor intrínseco de existir. É ela que nos faz perceber, ainda na infância, quando algo fere nosso senso de pertencimento ou ameaça nossa aceitação no grupo, ligando as primeiras manifestações de vergonha à experiência intersubjetiva do bebê com a mãe ou cuidador — experiência que, como demonstram Stern (1985) e Kohut (1971), constitui o alicerce do sentimento de si. A vergonha surge, assim, como marca inaugural do contato entre o eu nascente e a alteridade, apontando para a necessidade vital de reconhecimento empático.
Contudo, Jacoby alerta que essa ansiedade protetora torna-se destrutiva quando a vergonha se cristaliza em um estado interno de vigilância punitiva, interrompendo a capacidade espontânea de expressão e corroendo o senso de valor próprio. Nas palavras do autor:
“Ofensas menos danosas à nossa dignidade pessoal são os ingredientes da vida cotidiana, e amiudadas vezes provocam sentimentos aflitivos de vergonha, rejeição, degradação e insulto” (Jacoby, 2023, p. 113).
Aqui, o que poderia ter sido vivido como correção compassiva converte-se em humilhação, alimentando a ansiedade de vergonha crônica — condição que, segundo Erikson (1950), mina a autonomia e bloqueia o movimento natural do indivíduo em direção à diferenciação e à construção de um self coerente.
Ao apontar para a relação indissociável entre autoestima e as respostas recebidas do ambiente primário, Jacoby articula sua leitura à tradição da psicologia do self, destacando que a dignidade, longe de ser mera ideia moral ou social, se enraíza na vivência emocional de ser acolhido, validado e visto como portador de valor. Sem essa experiência fundante, a vergonha deixa de ser guardiã e passa a se tornar cárcere.
Esse entendimento aproxima-se do que Jung compreendia como persona saudável: uma forma de adaptação social flexível, capaz de proteger a intimidade sem engessá-la, permitindo ao eu expressar-se em sintonia com seu centro mais autêntico — o si-mesmo — sem sucumbir à necessidade compulsiva de agradar ou ser irrepreensível aos olhos dos outros.
No campo clínico, essa compreensão convoca o terapeuta a discernir se a vergonha manifesta-se como mecanismo integrador, que alerta para desvios do próprio ideal ético, ou como corrosão do sentimento de valor, demandando intervenções que restabeleçam a experiência de dignidade perdida e favoreçam um espelhamento reparador (Kohut, 1971; Stern, 1985). Pois, como sintetiza Jacoby em sua reflexão sobre a dignidade:
“De um lado, o senso da dignidade pessoal é necessário para nossa existência; de outro, é considerado indelicadeza ou mau gosto enfatizar demasiadamente a própria dignidade – ou até mesmo falar favoravelmente a respeito dela” (Jacoby, 2023, p. 113),
revelando a complexidade de sustentar a autoestima em equilíbrio entre respeito próprio e sensibilidade às normas sociais.
Dignidade: do ideal social à verdade interior
A dignidade, frequentemente tida como palavra antiquada ou limitada a formas protocolares de respeito, surge no terceiro capítulo da obra de Jacoby como um elemento estruturante do sentimento de valor pessoal. Longe de ser apenas uma construção social que distingue classes ou funções, ela constitui, na leitura do autor, o alicerce que sustenta o reconhecimento do próprio ser como alguém digno de existir, de ter voz e de ocupar um lugar no mundo.
Essa transformação do conceito de dignidade ganha contornos nítidos no contexto histórico que Jacoby resgata:
“Com a chegada do Iluminismo e do idealismo estético e moral de Kant e Schiller, a noção de autovalorização foi transformada e internalizada” (Jacoby, 2023, p. 112).
Aqui, a dignidade deixa de ser entendida apenas como privilégio conferido por posição social ou poder e passa a residir no âmago da pessoa, como qualidade intrínseca ligada à consciência de suas próprias responsabilidades e à capacidade de orientar suas ações em coerência com valores morais pessoais. O ideal kantiano de dignidade universal do ser humano, absorvido no idealismo posterior, imprime à autoestima um caráter ético: só é possível respeitar-se genuinamente quem se reconhece como sujeito moral, capaz de refletir sobre o certo e o errado.
Nesse processo, dignidade e vergonha tornam-se faces de uma mesma moeda psíquica: a primeira, sustentáculo da autoestima saudável; a segunda, sinal de que algo feriu esse sustentáculo ou nos desviou do que sentimos como verdadeiro para nós mesmos. Nas palavras de Jacoby,
“A falha em não prestar atenção à própria consciência resulta em um sentimento de vergonha porque se sente que a própria autovalorização pessoal foi diminuída” (p. 113).
Essa frase revela como a dignidade, na perspectiva do autor, não é apenas condição para ser reconhecido pelos outros, mas principalmente para manter a harmonia consigo mesmo. Ao ignorar a própria consciência ou transigir com o que se percebe como essencial para manter a retidão interior, instala-se uma ferida na autoestima que se expressa como vergonha corrosiva. Nesse ponto, a dignidade não é arrogância nem rigidez moral: é bússola íntima que orienta o indivíduo a respeitar quem é, mesmo em meio às pressões e expectativas do ambiente.
Jacoby também adverte para o paradoxo que envolve a manifestação externa da dignidade: em uma sociedade que valoriza a humildade aparente, enfatizar em demasia a própria dignidade pode ser visto como pretensão ou vaidade, o que acaba gerando constrangimento ou reação negativa — e alimentando, ironicamente, a própria vergonha que a dignidade deveria proteger. Essa ambivalência entre afirmar o próprio valor e não parecer orgulhoso ou “acima dos outros” constitui, segundo o autor, um dos desafios mais sutis na construção de uma autoestima sólida e ao mesmo tempo socialmente ajustada.
Dignidade: do ideal social à verdade interior
A dignidade, tão facilmente reduzida a uma casca social de boas maneiras ou a uma formalidade estéril, revela-se em Jacoby como instância viva que respira nas entranhas do self, delimitando o terreno onde se ergue ou se destrói a autoestima. No curso da história, lembra o autor, a dignidade foi metamorfoseada:
“Com a chegada do Iluminismo e do idealismo estético e moral de Kant e Schiller, a noção de autovalorização foi transformada e internalizada” (Jacoby, 2023, p. 112).
Esse deslocamento do polo externo — posição, prestígio, títulos — para o cerne da consciência marca um passo decisivo no amadurecimento psíquico do indivíduo: a dignidade deixa de ser dependente de ordens sociais ou hierarquias e passa a se enraizar na capacidade íntima de reconhecer, sustentar e proteger o valor de si mesmo. É nesse espaço interior que nasce a possibilidade de construir uma autoestima enraizada, não nas comparações ou validações externas, mas na escuta atenta do que a própria consciência testemunha sobre quem se é e sobre as escolhas que se faz.
Contudo, essa mesma consciência, que sustenta a dignidade, também se converte em tribunal implacável quando negligenciada. Jacoby mostra como a ruptura com o que se sabe, no íntimo, ser coerente com a própria essência instala a ferida da vergonha — não uma vergonha criativa, que nos devolve à modéstia, mas uma vergonha tóxica, que dissolve o valor do eu:
“A falha em não prestar atenção à própria consciência resulta em um sentimento de vergonha porque se sente que a própria autovalorização pessoal foi diminuída” (p. 113).
Há aqui uma dialética delicada: a mesma consciência que, integrada, funda a dignidade, quando traída, ativa a vergonha como reação psíquica que avisa que algo precioso foi violado. Na experiência clínica e humana, essa dinâmica se desdobra de forma silenciosa: não são raros os que, ao ignorarem por anos as próprias convicções mais profundas em nome de agradar, adaptar-se ou evitar conflitos, acabam tomados por um sentimento de indignidade que corrói lentamente a confiança em si mesmos.
Jacoby aponta, com precisão, a raiz dessa ferida: a dignidade não é nem uma blindagem narcísica nem um troféu de conduta perfeita, mas a vivência orgânica de sentir-se consistente, verdadeiro, inteiro. Quando cedemos reiteradamente ao que desmente essa inteireza — seja por medo, insegurança ou desesperada busca de aceitação — a vergonha emerge como sombra que se alonga sobre cada gesto, palavra ou silêncio. Nesse ponto, dignidade e vergonha passam a coexistir como forças que se entrechocam: a primeira como anseio do self por ser reconhecido e respeitado; a segunda como fantasma que acusa o preço psíquico de trair essa necessidade.
Não se trata, portanto, de inflar-se de orgulho ou de bradar uma dignidade para fora, mas de manter vivo, no interior, um sentido de fidelidade à própria essência, mesmo que as circunstâncias demandem silêncios, concessões ou estratégias. Pois, como Jacoby insinua em cada linha, a dignidade não grita: ela se afirma como presença silenciosa, e quando é sistematicamente abandonada, faz-se ouvir através da vergonha — mensageira sombria do self sobre os desvios do eu em relação ao que, no mais profundo, sabe ser sua verdade.
Dignidade: do ideal social à verdade interior
Há algo de quase arcaico na palavra dignidade — como se ressoasse de um tempo em que homens e mulheres precisavam lembrar uns aos outros que toda vida humana carrega um valor intrínseco. E no entanto, em Jacoby, essa palavra escapa ao mofo da tradição moralista para reacender sua centelha vital: dignidade, aqui, não é adorno para aparências, mas substância que molda o chão sobre o qual o eu pode erguer-se. Quando internalizada, essa dignidade torna-se eixo em torno do qual a consciência se organiza e a autoestima se nutre, pois é apenas a partir do reconhecimento do próprio valor que podemos sustentar nossos limites e acolher nossas falhas sem naufragar na vergonha.
Ao reconstituir a história dessa noção, Jacoby nos conduz ao Iluminismo, momento em que o ideal de dignidade migra do estamento social para a esfera individual:
“Com a chegada do Iluminismo e do idealismo estético e moral de Kant e Schiller, a noção de autovalorização foi transformada e internalizada” (Jacoby, 2023, p. 112).
Esse deslocamento da dignidade — do que o outro confere ao que a consciência reconhece — inaugura não apenas um novo modo de compreender a moral, mas redefine o lugar onde a vergonha passa a operar. A dignidade, já não mais conferida por status, exige agora coerência íntima: somos responsáveis por sermos fiéis a nós mesmos. E quando essa fidelidade é quebrada, instala-se a vergonha como sangramento psíquico que denuncia a violação do pacto silencioso que temos com nossa própria essência.
Jacoby afirma, em tom que reverbera a precisão de quem conhece o terreno clínico onde esses dramas se desenrolam:
“A falha em não prestar atenção à própria consciência resulta em um sentimento de vergonha porque se sente que a própria autovalorização pessoal foi diminuída” (p. 113).
Nesse reconhecimento, percebe-se que a vergonha não é apenas resultado de humilhações impostas de fora; ela nasce, muitas vezes, como reação orgânica à traição do que sentimos como nosso eixo interno. E aqui se revela a face mais complexa dessa dialética: dignidade e vergonha não são polos opostos; são irmãs siamesas. A dignidade estrutura, a vergonha acusa sua perda; a dignidade anima o self com a certeza de merecer existir, a vergonha denuncia o afastamento de quem somos.
Essa compreensão torna-se ainda mais delicada quando Jacoby lembra que, no tecido social, a expressão ostensiva de dignidade pode ser vista como pretensão ou soberba, gerando reações negativas e alimentando ainda mais a vergonha. Surge então o paradoxo: para proteger a dignidade, às vezes precisamos silenciá-la aos olhos dos outros, num esforço de equilibrar a coerência consigo mesmo com a aceitação em laços sociais. Essa tensão constante, quase invisível, entre afirmar silenciosamente o valor de si e evitar a aparência de arrogância, acompanha quem busca sustentar uma autoestima viva, mas não inflada — firme, mas não rígida.
A dignidade, assim, é semente e fruto: semeada na infância, quando aprendemos, pelo olhar do outro, que somos dignos; cultivada na vida adulta, quando escolhemos, a cada decisão, honrar ou trair a verdade que descobrimos em nós. E quando repetidas vezes negamos essa verdade para nos ajustarmos, a vergonha instala-se como guardiã sombria, lembrando, não com palavras, mas com o peso que se abate sobre os ombros, que há algo em nós clamando por reconciliação. Pois, como cada linha de Jacoby insinua, não existe dignidade sem consciência — e não existe consciência sem a coragem de escutar a voz que sussurra, desde dentro, quem somos de fato.
Quando a dignidade sangra: a vergonha nas pequenas e grandes ofensas
Se a dignidade é o solo onde o self finca suas raízes, a vergonha é a rachadura que se abre quando esse solo é ferido — às vezes de forma abrupta, em situações de humilhação explícita, mas, mais frequentemente, de maneira insidiosa, nas pequenas ofensas que corrompem silenciosamente a autoconfiança. Jacoby nos convida a perceber como a vida cotidiana, com sua tessitura de encontros, desencontros e desatenções, pode ir tecendo uma tapeçaria de microferidas que, somadas, minam o senso de valor pessoal:
“Ofensas menos danosas à nossa dignidade pessoal são os ingredientes da vida cotidiana, e amiudadas vezes provocam sentimentos aflitivos de vergonha, rejeição, degradação e insulto” (Jacoby, 2023, p. 113).
Nesse ponto, o autor nos chama a compreender a vergonha não apenas como emoção que surge em grandes eventos traumáticos, mas como um estado que pode ser alimentado por olhares que nos diminuem, comentários ácidos, gestos de desdém ou simplesmente pela ausência de consideração — sinais sutis que indicam que, aos olhos do outro, nossa presença ou valor são questionáveis. A dor dessa vergonha cotidiana instala-se de modo sorrateiro: não chega como grito, mas como sussurro que vai corroendo a integridade do self até que a pessoa, muitas vezes sem perceber, comece a encolher seus gestos, abafar sua voz e duvidar de seu direito de ocupar espaço.
Jacoby evidencia que essa experiência cotidiana de indignidade não é menos devastadora do que grandes humilhações explícitas, pois cria um ambiente psíquico onde a ansiedade de vergonha se torna estado permanente, e não apenas reação pontual. A pessoa passa a viver em estado de alerta, como se cada situação social fosse um terreno minado em que qualquer palavra, tom ou expressão do outro pudesse disparar o gatilho da vergonha. Nesse terreno, a dignidade deixa de ser fonte de autossustento e passa a ser lembrança nostálgica de um tempo em que se sentia autorizado a existir sem medo de desvalorização.
Em sua análise, Jacoby não naturaliza essa dinâmica: ele a expõe como fruto de um ciclo relacional que se perpetua quando a própria sociedade legitima a desqualificação cotidiana como “normalidade”, tornando aceitável zombar, ridicularizar ou ironizar a vulnerabilidade alheia. Assim, o autor alerta para a urgência de restaurar espaços de cuidado e respeito, capazes de devolver à dignidade sua função vital como guardiã do self.
Pois se a dignidade não é reconhecida externamente, torna-se quase impossível para o indivíduo, principalmente em fases iniciais do desenvolvimento, internalizar a convicção de que possui valor. E quando a infância é marcada por sucessivas microagressões — que nem sempre se expressam em violência explícita, mas em desdém, rejeição ou silêncio gélido —, a vergonha crônica passa a ser companheira inseparável, moldando a forma como a pessoa se percebe e se oferece ao mundo.
Nesse sentido, Jacoby revela que a vergonha, longe de ser apenas emoção que surge no choque do erro ou do vexame, é também sintoma de relações que não reconhecem a alteridade como digna — e quando isso se transforma em padrão, a autoestima deixa de ser possibilidade e passa a ser miragem. Para ele, o trabalho terapêutico deve, antes de buscar corrigir comportamentos ou crenças, reconstruir a possibilidade de o sujeito experimentar, talvez pela primeira vez, um espaço onde sua dignidade seja não apenas preservada, mas reconhecida como legítima e inviolável.
O paradoxo da dignidade: entre a necessidade de reconhecimento e o medo de ostentação
Na tessitura fina das relações humanas, a dignidade se mostra ambígua: sua presença silenciosa garante a sensação de solidez interna, mas sua afirmação explícita, em muitos contextos, pode ser percebida como arrogância ou presunção. Jacoby mergulha nessa ambivalência para revelar como a dignidade é tanto necessidade vital quanto potencial motivo de constrangimento social, apontando a encruzilhada em que muitas pessoas se encontram: para manter o pertencimento, frequentemente precisam calar o impulso de afirmar a própria dignidade, aceitando silenciosamente situações que, no íntimo, ferem seu valor.
Essa tensão aparece com clareza quando o autor escreve que, apesar de essencial, a dignidade costuma ser vista como atributo que “não se deve exibir demais”:
“De um lado, o senso da dignidade pessoal é necessário para nossa existência; de outro, é considerado indelicadeza ou mau gosto enfatizar demasiadamente a própria dignidade – ou até mesmo falar favoravelmente a respeito dela” (Jacoby, 2023, p. 113).
Nessa frase, desvela-se a contradição que atravessa nossa cultura: exigimos que as pessoas tenham autoestima e saibam se colocar, mas reprovamos abertamente quem demonstra consciência de seu próprio valor de maneira clara ou incisiva. Como resultado, muitos acabam reprimindo sua voz, sufocando reivindicações legítimas ou engolindo humilhações, para não serem taxados de “difíceis”, “soberbos” ou “sensíveis demais”.
A dignidade, assim, transforma-se em presença silenciosa — ao mesmo tempo pedra angular e calvário: pedra, porque sobre ela se assenta a segurança do self; calvário, porque manter-se fiel a ela implica, não raras vezes, suportar o desconforto de se tornar alvo de ironias ou rejeições em grupos que veem qualquer manifestação de autorrespeito como ameaça à conformidade coletiva.
Jacoby ilumina ainda como esse dilema se enraíza nos primeiros vínculos: crianças que, ao tentar afirmar limites saudáveis, foram censuradas ou ridicularizadas aprendem rapidamente que expressar dignidade pode ter como preço a perda de afeto ou aceitação. Assim, crescem calibrando cada gesto para não transparecer a própria força, criando personas moldadas para se tornarem “agradáveis”, ainda que isso custe a própria verdade interior.
Com isso, a dignidade torna-se quase clandestina: existe, mas apenas no refúgio do pensamento íntimo, pois manifestá-la pode romper alianças, trazer críticas ou desatar invejas. O preço é alto: esse silêncio imposto ao valor próprio alimenta a vergonha e, em muitos casos, a sensação de que a única forma de ser aceito é abrir mão de si mesmo, como se a lealdade à própria essência fosse pecado social.
Para Jacoby, reconhecer essa armadilha cultural e relacional é passo decisivo para a restauração da autoestima. Ele aponta a necessidade de espaços — sobretudo no trabalho psicoterapêutico — onde a dignidade do indivíduo possa ser honrada sem medo de retaliações, permitindo que a vergonha tóxica se desfaça e o senso de valor próprio encontre solo fértil para florescer. Pois somente quando a dignidade deixa de ser segredo doloroso e passa a ser reconhecida como direito inalienável é que o eu pode respirar sem o peso do constrangimento por existir.
O espelhamento primordial: o olhar do outro que nos autoriza a existir
No cerne do sentimento de autoestima, Jacoby destaca a experiência de ser visto e reconhecido pelo outro como fundante — pois é no espelhamento oferecido pela figura cuidadora que o self nascente descobre não apenas que existe, mas que sua existência tem valor. Essa dimensão relacional, que vai muito além de cuidados materiais ou de satisfação de necessidades físicas, é o lugar onde a dignidade começa a germinar ou, inversamente, onde se instalam as primeiras rachaduras que podem evoluir para vergonha crônica.
Jacoby faz questão de mostrar que a dignidade e o sentimento de ser digno de amor não brotam de um vácuo: eles dependem da presença atenta e afetivamente sintonizada do outro, especialmente nos primeiros meses e anos de vida, quando ainda não há palavras, mas já existe uma troca vibrante de afetos, tons de voz, expressões e gestos. Nessa orquestra silenciosa, o bebê aprende, em cada olhar, se é bem-vindo ou não; se é sentido como um fardo ou como alguém digno de ternura.
Essa experiência é descrita de modo cristalino no texto:
“Experiências comoventes de aceitação ou, ao contrário, humilhações primitivas, impressas nas primeiras fases da vida, são decisivas para o futuro do sentimento de autoestima” (Jacoby, 2023, p. 113).
Nesse trecho, Jacoby revela a ferida fundacional que muitos carregam sem sequer suspeitar: a vergonha não nasce de um suposto defeito individual, mas de um olhar que não se deteve, de um cuidado que foi ausente ou de uma resposta que não chegou. Assim, desde muito cedo, instala-se no psiquismo a pergunta devastadora: “sou digno de existir?”, que ecoa ao longo da vida em relações afetivas, profissionais e sociais, moldando a forma como a pessoa ousa ou não ocupar espaço, expressar desejos ou estabelecer limites.
O autor articula essa dinâmica com precisão: a dignidade pessoal depende de uma experiência relacional que autoriza o eu a ser, e não apenas a obedecer. Quando a criança é vista como extensão narcisista dos pais, ou como objeto para suas expectativas e frustrações, a possibilidade de enraizar um senso de dignidade genuína se esvai — e, em seu lugar, surge o medo de errar, a necessidade de agradar ou o desejo compulsivo de provar valor.
Nesse sentido, o olhar empático não é luxo; é condição para o sentimento de dignidade florescer. Pois é nele que a criança aprende, ainda no silêncio do pré-verbal, que existe um lugar onde pode ser simplesmente quem é — sem se contorcer para caber no ideal do outro. Quando esse espelhamento é ausente, frio ou hostil, a vergonha passa a colonizar a experiência do self, e a dignidade se torna lembrança de um direito que nunca chegou a ser plenamente vivido.
Jacoby, assim, evidencia que restaurar a dignidade na clínica não é apenas ensinar técnicas de autoestima, mas construir, na relação terapêutica, um espelho capaz de devolver ao indivíduo a imagem de sua própria humanidade como algo digno de existir, amar e ser amado — processo que não se dá de forma mágica, mas que exige a experiência viva de ser visto com respeito e autenticidade.
Quando a vergonha se cristaliza: a prisão invisível da dignidade ferida
Ao longo do terceiro capítulo, Jacoby nos conduz a compreender que a vergonha, quando não é acolhida ou transformada, deixa de ser apenas emoção passageira para se tornar estado permanente, estruturando uma forma de ser no mundo marcada pela desconfiança de si mesmo. É como se, a cada experiência de desqualificação ou de não reconhecimento, uma camada de vergonha se sobrepusesse à anterior, criando uma couraça psíquica que ao invés de proteger, isola o self de sua vitalidade e espontaneidade.
O autor descreve essa dinâmica com lucidez:
“A ferida narcísica mais dolorosa reside na experiência de não ter sido aceito como se é, o que provoca vergonha crônica e compromete o sentimento de dignidade pessoal” (Jacoby, 2023, p. 114).
Nesse trecho, revela-se a essência do sofrimento: não se trata apenas de episódios pontuais de humilhação, mas da repetição de micro ou macroagressões — explícitas ou veladas — que constroem uma narrativa de indignidade. A pessoa passa a acreditar, no íntimo, que precisa corrigir algo essencial em si para ser merecedora de consideração, e essa crença, sutil ou gritante, alimenta uma forma de viver sempre devedor, sempre em dívida com um padrão inatingível.
Jacoby expõe como essa vergonha cristalizada invade todos os cantos da vida: impede a liberdade de amar com inteireza, bloqueia a criatividade que nasce do risco de errar e paralisa a afirmação de limites necessários para relações saudáveis. A dignidade, que deveria ser força que alicerça o eu, torna-se lembrança do que poderia ter sido, mas não foi: uma possibilidade abortada pelas condições relacionais iniciais, que se reproduzem em padrões repetitivos na vida adulta, como se a alma buscasse, em novos relacionamentos, uma chance de reparar a ferida — mas frequentemente reencontrasse a mesma dor.
Nesse labirinto, a vergonha não se apresenta apenas como emoção: transforma-se em lente através da qual o indivíduo interpreta a si mesmo e o mundo, distorcendo elogios em desconfiança, apoio em condescendência e oportunidades em armadilhas. Essa lente invisível cria um campo de realidade onde a indignidade parece fato consumado e incontornável, ainda que, externamente, não haja mais nada que a justifique.
Jacoby nos alerta, então, para a importância de reconhecer a vergonha como sintoma relacional e histórico, e não como falha individual: pois apenas quando a vergonha é contextualizada e compreendida como marca deixada por experiências precoces de desqualificação é que o indivíduo pode começar a retomar a dignidade como direito inato, e não como conquista que depende de perfeição ou performance. Ele destaca, com clareza, que essa mudança não se faz apenas pela razão ou por discursos motivacionais, mas pela experiência viva de relações onde a dignidade seja honrada, vista e reafirmada — começando, muitas vezes, pelo vínculo terapêutico.
Pois, como se depreende de cada linha que o autor dedica à dignidade, é somente quando a vergonha perde seu domínio silencioso que o self, finalmente, respira sem medo de existir.
Restaurar a dignidade: a possibilidade de renascimento do self ferido
Se a dignidade pode ser violada ainda na infância pelas fraturas de cuidado e reconhecimento, Jacoby não deixa o leitor sem esperança: ele ilumina a possibilidade de reconstrução, lembrando que a psique, mesmo ferida, mantém uma capacidade surpreendente de se reorganizar quando encontra condições emocionais seguras, capazes de reparar as experiências precoces de desqualificação. Nesse ponto do capítulo, o autor aproxima a dignidade não apenas de um destino fixo, mas de um processo vivo que pode ser retomado — um movimento de renascimento do self que se dá na relação, no vínculo e na possibilidade de ser visto de maneira nova.
Jacoby enfatiza que, mesmo que as marcas da vergonha pareçam definitivas, há sempre, na vida adulta, chances de experiências transformadoras:
“Novas experiências são sempre possíveis, na realidade inevitáveis, na contínua corrente da vida, e estas podem modificar os padrões internos originais. Se assim não fosse, a psicoterapia dificilmente seria eficaz” (Jacoby, 2023, p. 141).
Nessa afirmação, revela-se uma confiança fundamental na plasticidade da psique: o self não está condenado ao roteiro inicial imposto pelas feridas do espelhamento precário, pois a dignidade pode ser reatualizada quando se encontra outro que acolhe, reconhece e legitima a existência sem exigir perfeição. Essa possibilidade de transformação é, para Jacoby, não apenas teoria, mas a base que justifica a prática clínica: a terapia torna-se, assim, espaço de reinvenção do sentimento de valor pessoal, onde a dignidade pode ser redescoberta não como ideal inatingível, mas como direito essencial.
O autor mostra que o processo de restauração da dignidade não ocorre pela simples fala ou pela repetição de afirmações positivas, mas pela vivência relacional que oferece ao indivíduo a experiência inédita de ser visto sem o crivo do julgamento — e, mais importante, de ser visto como alguém que merece respeito por quem é, e não pelo que faz ou pelo quanto se adapta às expectativas alheias.
Nesse sentido, a dignidade resgatada não se parece com uma armadura que blinda o self, mas com um campo interno de estabilidade que permite flexibilidade e autenticidade: quem reencontra a própria dignidade não precisa mais construir personas rígidas para evitar a vergonha, pois passa a confiar que seu valor não depende de desempenho impecável. Como consequência, surge a possibilidade de expressar vulnerabilidade, reconhecer falhas e ao mesmo tempo sustentar limites — marcas de um self que, enfim, respira com autonomia.
Jacoby, portanto, oferece ao leitor mais do que uma análise das origens da vergonha: propõe uma visão esperançosa e profunda sobre a dignidade como força que pode ser restaurada quando o indivíduo encontra uma relação que não apenas compreende a vergonha, mas a dissolve pelo simples, porém revolucionário, ato de reconhecer a pessoa como legítima em sua humanidade imperfeita.
A armadilha do si-mesmo ostentoso: quando a dignidade se perverte em grandiosidade
Na etapa final do capítulo, Jacoby adentra a delicada fronteira onde a busca por dignidade saudável pode deslizar para a construção de fantasias grandiosas, criando o que chama de si-mesmo ostentoso — uma estrutura psíquica que surge como defesa contra a vergonha crônica, mas acaba aprisionando o indivíduo em expectativas irreais sobre si mesmo. Aqui, dignidade deixa de ser sustentáculo do self para se tornar ideal inflado, marcado por exigências de perfeição e pela necessidade compulsiva de confirmação externa.
O autor descreve com precisão como esse si-mesmo ostentoso se forma a partir de feridas narcísicas precoces, quando a criança, em vez de encontrar um espelho que a reconheça, precisa construir uma imagem idealizada para sobreviver emocionalmente:
“O si-mesmo ostentoso representa uma fixação no estágio de um si-mesmo arcaico, embora normal, da infância, caracterizado por ilimitada — embora ilusória — onipotência e onisciência” (Jacoby, 2023, p. 150).
Essa fantasia de onipotência nasce, paradoxalmente, do desamparo: a criança que não encontra acolhimento suficiente internaliza que só será digna se se tornar perfeita, brilhante ou extraordinária. Assim, passa a se organizar em torno de um ideal grandioso que a impele a realizar feitos excepcionais ou a adotar posturas de superioridade como forma de encobrir a vergonha secreta que habita suas raízes.
Jacoby alerta que, em adultos, essa estrutura costuma manifestar-se como oscilações entre sentimentos de grandeza e profundos estados de inferioridade — pois qualquer falha, por menor que seja, faz ruir a ilusão de perfeição e reativa a vergonha primitiva. O resultado é um ciclo extenuante: a pessoa persegue metas impossíveis para reafirmar sua dignidade, fracassa inevitavelmente diante das exigências desmedidas, e então afunda novamente na vergonha, nutrindo a crença de que precisa ser ainda mais perfeita para merecer existir.
O autor evidencia que a armadilha do si-mesmo ostentoso não se desfaz apenas pela conscientização intelectual. O trabalho terapêutico precisa possibilitar que a pessoa experimente, relacionalmente, a aceitação de suas limitações sem que isso signifique perda de valor:
“Somente pouquíssimos indivíduos acometidos por este problema estão conscientes de que as raízes de sua impiedosa autodepreciação jazem em suas próprias fantasias ostentosas” (Jacoby, 2023, p. 167).
Essa frase revela a tragédia silenciosa: quem vive preso à exigência de perfeição muitas vezes não percebe que seu senso de indignidade não vem de falhas reais, mas do peso insustentável de um ideal inflado. Enquanto não se reconhece que essa grandiosidade é defesa contra uma vergonha mais antiga, persiste-se no ciclo de autoexigência e autodepreciação.
Jacoby aponta que a saída passa pela reconstrução gradual de uma dignidade realista, que reconhece valor intrínseco independentemente de feitos extraordinários. Esse processo, porém, é delicado e exige a construção de vínculos terapêuticos ou relacionais que sejam capazes de acolher tanto os sentimentos de humilhação quanto as fantasias grandiosas, permitindo ao indivíduo experimentar que não precisa ser especial para ser digno de respeito e amor.
Conclusão: o retorno à dignidade como ato de renascimento
Diante das camadas que Jacoby descortina, compreendemos que a dignidade não é um adereço moral que se veste para agradar à sociedade, mas a seiva que nutre o tronco do self, dando-lhe coragem para sustentar-se em pé diante das intempéries da vida. Perder a dignidade — ou nunca tê-la experimentado plenamente — é como ter as raízes cortadas: por mais que a árvore se esforce para erguer-se, qualquer vento mais forte a lança ao chão.
Nesse terreno, a vergonha aparece não como simples emoção que vem e vai, mas como mensageira sombria de uma história não contada: história de olhares que não acolheram, de palavras que feriram, de silêncios que condenaram. A vergonha revela a ausência de um lar psíquico onde o ser pudesse repousar em sua inteireza, sem precisar exibir façanhas ou calar sua dor.
E, ainda assim, Jacoby abre uma fresta luminosa: a dignidade pode ser restaurada. Não como medalha de quem vence batalhas externas, mas como conquista silenciosa de quem ousa, no íntimo, se reconciliar com suas imperfeições e relembrar que dignidade não é prêmio para os que nunca falham, mas direito de todos que, apesar das quedas, mantêm vivo o sopro do desejo de existir com verdade.
Assim, recuperar a dignidade é ato de renascimento: exige coragem de atravessar a vergonha, gentileza para acolher a própria história e confiança de que, em algum lugar do coração, ainda mora uma voz suave que sussurra — e sempre sussurrará — que ser humano é, por si só, razão suficiente para merecer existir com inteireza.
Luciana Marinho Albrecht
Excelente análise. Artigo relevante.







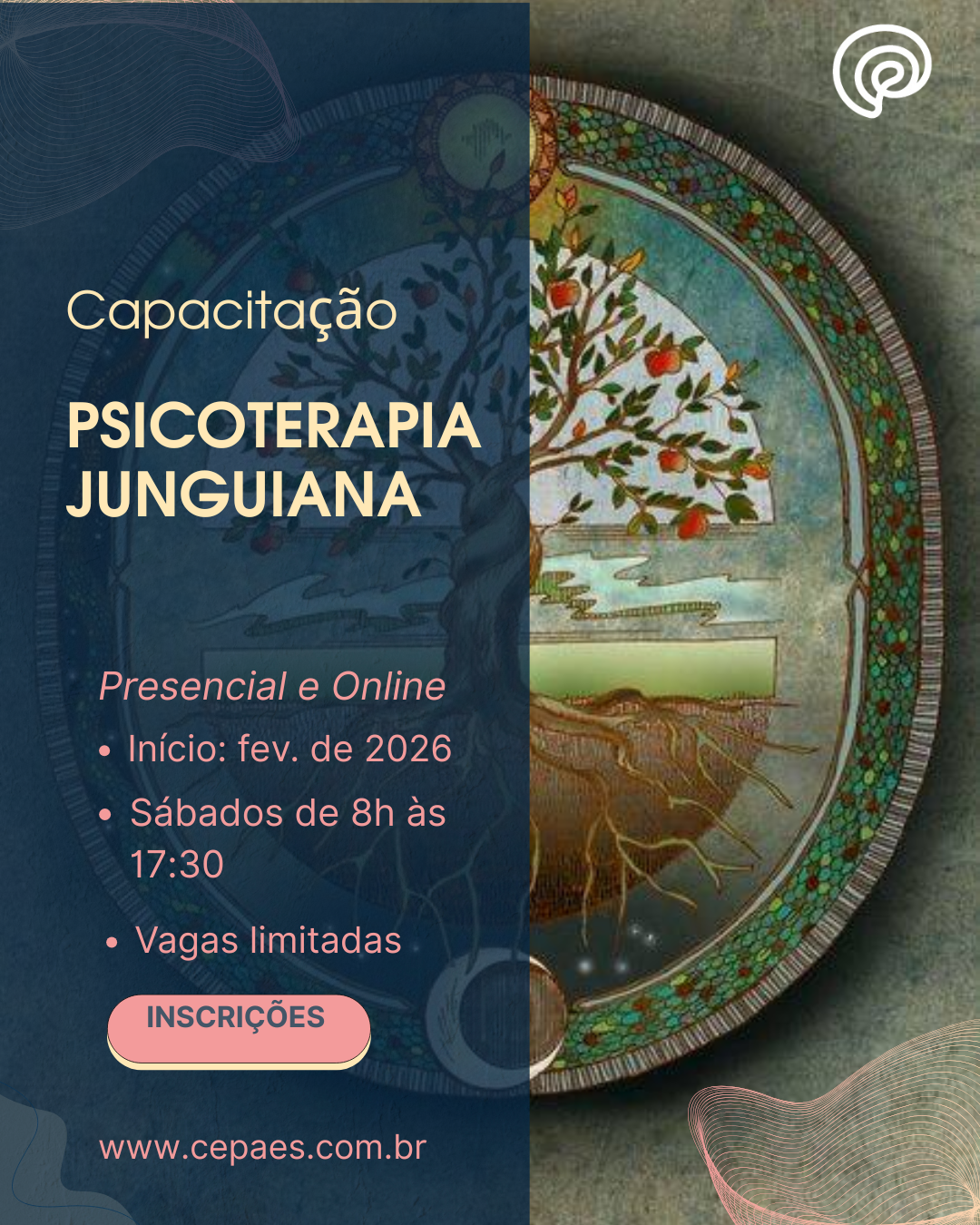



1 comentário