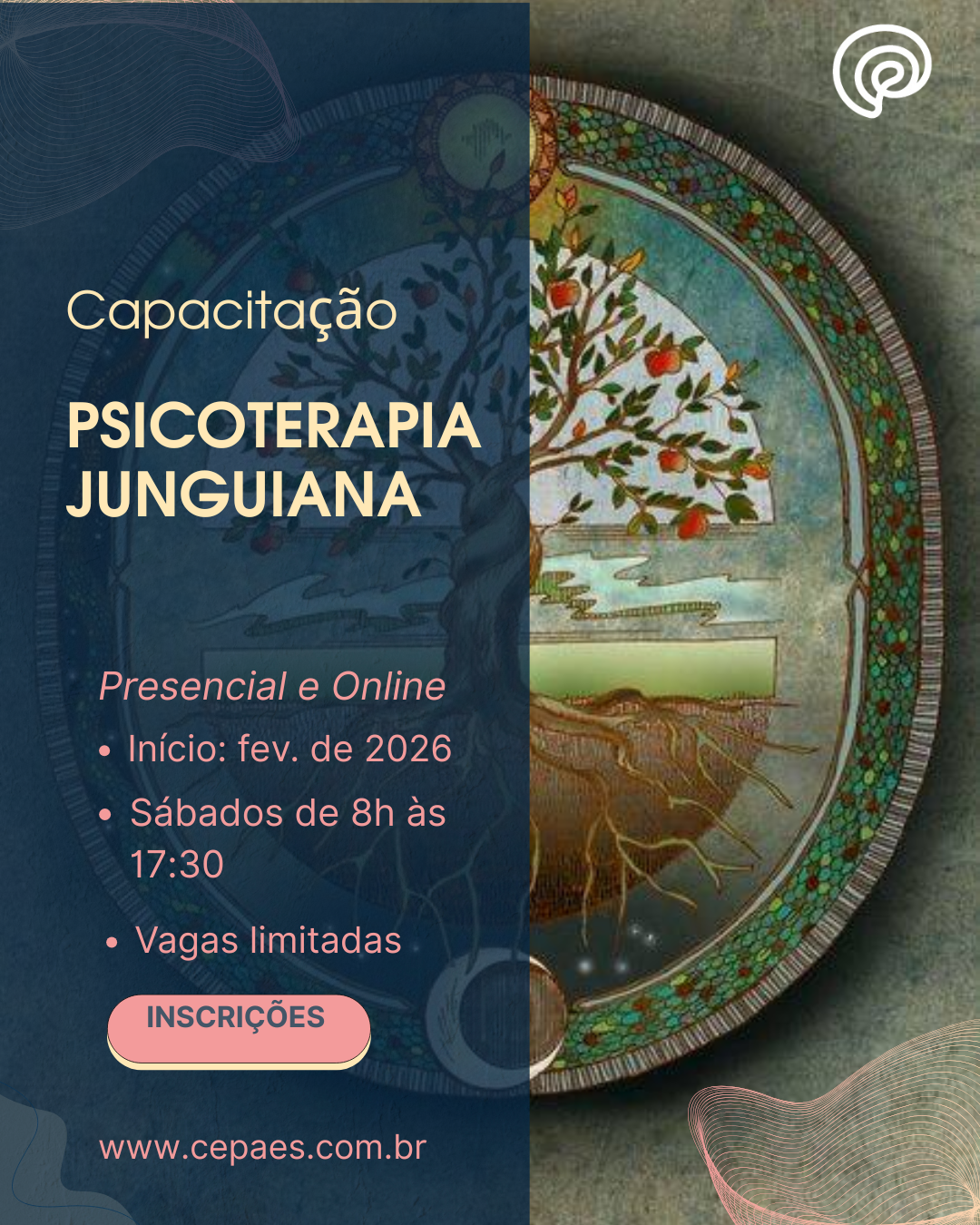A Vergonha na Clínica

A vergonha, em sua dimensão silenciosa e devastadora, constitui uma das experiências mais profundas e estruturantes da vida psíquica. Não se trata apenas de um desconforto social, como quando alguém se sente envergonhado por um erro banal; trata-se de um afeto primário, visceral, que atravessa a alma como cicatriz primeira. É um afeto que não se esgota no momento em que ocorre: ele se inscreve na memória emocional e retorna como ferida recorrente, moldando a forma como o sujeito se percebe e se vincula.
Sua potência está justamente no invisível. A vergonha age como um olhar introjetado, um olhar que permanece mesmo na ausência do outro, corroendo a autoestima e restringindo a confiança em si mesmo. Ela mina as possibilidades de intimidade, pois não apenas inibe a vida relacional, mas toca o cerne da experiência de existir. Na clínica, é comum que pacientes descrevam-na não em palavras, mas em gestos: o abaixar dos olhos, o silêncio repentino, o rubor que denuncia um conflito interno entre o desejo de se mostrar e o medo de ser rejeitado.
Mario Jacoby, em A Vergonha e as Origens da Autoestima (2024), dedica o capítulo 6 à análise da humilhação e do silêncio como formas específicas de trauma psíquico. Ele evidencia que esses afetos, quando precocemente inscritos, não são meros episódios isolados, mas se tornam matrizes de repetição: padrões de autorrejeição que acompanham a identidade como fantasmas internos. Assim, a vergonha assume a forma de uma sombra ancestral, que inferioriza e aprisiona o sujeito em imagens de indignidade.
O presente artigo busca aprofundar essa dimensão, compreendendo a vergonha como ferida primária que não apenas acompanha, mas constitui a subjetividade. É neste ponto que a clínica se torna campo decisivo: no espaço analítico, o temor de ser ridicularizado, rejeitado ou não compreendido reencena a cena traumática, convocando o analista a sustentar, com empatia radical, o silêncio e a humilhação que emergem. Somente quando o analista sobrevive ao ataque da rejeição e da resistência, sem devolver desprezo, algo novo pode despontar. O trabalho com a vergonha exige uma escuta que acolhe e não invade, que suporta a distância e não força confidência – uma escuta que devolve ao analisando a possibilidade de existir sem o peso de sua face escondida.
Segundo Jacoby, a vergonha não se reduz à ideia de falha moral ou inadequação social. Ela é mais radical, porque “atinge o ser humano em seu núcleo mais íntimo, comunicando a dolorosa mensagem de que se é indigno de amor” (Jacoby, 2024, p. 120). Ao invés de estar ligada apenas ao que se fez, a vergonha imprime a sensação de que é o próprio ser que está em falta. Essa inversão é o que a torna um afeto devastador: não se trata de reparar um ato, mas de sobreviver à experiência de ser considerado, ou sentir-se, essencialmente errado.
O silêncio surge, então, como defesa central contra essa ferida. Trata-se de um silêncio carregado, que se apresenta como autossuficiência, mas que, em sua raiz, é estratégia de sobrevivência: calar para não ser exposto novamente. Na tentativa de evitar a humilhação, o sujeito reforça o isolamento, perpetuando o ciclo de exclusão. Na clínica, esse mecanismo se manifesta como dificuldade de narrar, como resistência à fala sobre si, ou até mesmo como medo de que o olhar do analista se torne uma repetição da cena traumática – vivido como piedade, desprezo ou ridicularização.
Assim, compreender a vergonha em seu estatuto clínico significa reconhecê-la não como afeto periférico, mas como núcleo constitutivo da subjetividade. O que ali se joga não é apenas a fala ou o silêncio, mas a possibilidade de existir diante do olhar de um outro. Quando o analisando se expõe ao risco de ser visto, a cena traumática se atualiza, e o analista é convocado a uma tarefa de sobrevivência simbólica: sustentar, com empatia radical, a dor do paciente sem recuar, sem interpretar às pressas e sem devolver indiferença ou reprovação.
Somente nesse espaço sustentado, onde a vergonha pode emergir sem ser devolvida como humilhação, algo novo pode nascer. O trabalho analítico com a vergonha exige, antes de qualquer coisa, uma escuta que não invade, que suporta o silêncio e que permite ao paciente experimentar a possibilidade inédita de existir sem precisar esconder sua face. O gesto clínico fundamental não é o de dissolver a vergonha de imediato, mas de reconhecê-la como ferida digna de cuidado – um cuidado que devolve ao sujeito a chance de reconstituir sua dignidade e de se reconhecer, ainda que fragmentado, como alguém possível de amar e ser amado.
No setting analítico, a vergonha não se apresenta apenas como afeto, mas como atmosfera que envolve toda a relação desde o primeiro encontro. Trata-se de um silêncio denso, carregado de olhares desviados, pausas abruptas e gestos contidos. O analisando, ao se ver diante do analista, experimenta de imediato a assimetria da relação: a posição daquele que fala e se expõe diante de alguém que escuta em silêncio. Essa assimetria, constitutiva do vínculo terapêutico, pode ser vivida como continente e proteção, mas também como ameaça e risco de ridicularização.
A clínica revela que a vergonha atua como força que estrutura a transferência. O paciente projeta no analista tanto a possibilidade de acolhimento quanto o perigo de ser desqualificado. Em muitos casos, esse afeto é tão invasivo que antecede a fala: está no corpo que ruboriza, na respiração que falha, na voz que hesita, no tremor. O espaço da análise, que deveria abrir a palavra, torna-se lugar em que o silêncio se impõe como defesa. Não se trata apenas de resistência; é um silêncio protetor, que busca evitar a repetição da ferida de ser exposto ao desprezo.
Jacoby (2024, p. 106) adverte que a reciprocidade no setting não é fruto de confissões pessoais do analista, mas da sua capacidade de sustentar o peso da vergonha com empatia. Essa observação é crucial, pois protege o espaço analítico da confusão com uma intimidade comum. O paciente não precisa de um analista que compartilhe experiências próprias, mas de alguém que suporte o embaraço, a retração e o silêncio sem devolver indiferença ou piedade.
Essa capacidade do analista de “sobreviver” à vergonha é central. A cada tentativa de aproximação seguida de retraimento, a cada fantasia de ridicularização projetada sobre o analista, repete-se o trauma originário em que o desejo encontrou desprezo. Se o analista reage de forma defensiva ou retaliadora, confirma o fantasma. Mas se permanece presente, tolerando o afastamento e o ataque sem devolver humilhação, possibilita ao paciente uma experiência inédita: ser visto em sua vulnerabilidade sem ser destruído.
O manejo da transferência exige, portanto, uma delicadeza radical. O paciente pode imaginar o analista como voyeur que invade sua intimidade, como juiz que o condena, ou como figura indiferente que o ignora. Nessas fantasias, o analista ocupa exatamente o lugar do agressor interno que perpetua a vergonha. O desafio clínico está em não confirmar esses papéis, mas também em não negá-los de forma simplista. É preciso suportar o ódio, a suspeita, a retração, sem se apressar em interpretá-los. A análise da vergonha não é imediata: ela amadurece na sustentação do não dito.
O silêncio, nesse cenário, torna-se personagem clínico. Muitas vezes, o paciente não cala por falta de conteúdo, mas por medo de ser humilhado. Cada palavra parece arriscada, cada frase, uma possível exposição ao ridículo. Forçar a fala nesse momento equivale a violentar a defesa, agravando a ferida. O silêncio precisa ser reconhecido como expressão legítima do trauma e acolhido como espaço de gestação. Quando o analista respeita esse silêncio, o paciente aprende que até sua recusa em falar pode ser sustentada sem desprezo.
Nesse ponto, a vergonha mostra seu duplo caráter: paralisante e, ao mesmo tempo, potencialmente transformador. O afeto que antes isolava pode se converter em possibilidade de encontro, se houver alguém que o sustente sem julgamento. O rubor, o embaraço, a retração deixam de ser sinais de indignidade para tornarem-se marcas da condição humana. A experiência de ser visto em sua fragilidade, sem que isso se torne motivo de escárnio, abre caminho para uma nova confiança – uma confiança não idealizada, mas construída na prova de que o vínculo pode sobreviver ao afeto devastador.
Nesse sentido, a clínica da vergonha não é apenas análise de sintomas, mas trabalho com a alteridade em sua forma mais crua. A vergonha nasce do olhar do outro e só pode ser transformada no encontro com esse mesmo olhar, quando este se mostra capaz de sustentar sem destruir. O analista, ao manter-se presente sem invadir, e disponível sem julgar, torna-se testemunha reparadora daquilo que antes foi vivido como humilhação.
Por isso, pode-se afirmar que a vergonha é o afeto da alteridade por excelência: ela só existe porque existe o outro. O risco de ser reduzido, diminuído ou ridicularizado acompanha o desejo de ser reconhecido. No espaço analítico, essa tensão ganha contornos dramáticos, mas também possibilidades de elaboração. Quando o paciente descobre que pode ser olhado sem ser aniquilado, a vergonha deixa de ser apenas prisão e passa a ser limiar: passagem dolorosa, mas fecunda, para a reconstrução do self.
Sexualidade e Vergonha
A vergonha no campo da sexualidade ultrapassa o caráter de mero desconforto social e assume um papel constitutivo na identidade subjetiva. Diferentemente da culpa, que remete a uma transgressão normativa e, portanto, passível de reparação, a vergonha toca o núcleo do ser, apontando para a sensação de inadequação essencial. Na clínica, não é raro que o paciente se apresente tomado por esse afeto diante do próprio desejo, experimentando o impulso erótico como acusação e condenação.
Nesse contexto, Mario Jacoby (2024) sublinha que a vergonha atravessa tanto paciente quanto analista. Em suas palavras:
“Sentimentos de vergonha a respeito da própria sexualidade podem influenciar tanto o cliente quanto o analista, levando-os a usar interpretações simbólicas como uma forma de evitar assuntos aflitivos e incômodos”
(Jacoby, 2024, p. 109).
Essa observação chama atenção para um fenômeno clínico delicado: o risco de que ambos os polos da relação analítica se refugiem no simbólico como defesa contra o confronto direto com o afeto. O silêncio, nesse caso, é mantido por um conluio inconsciente que preserva a ferida intacta.
A vergonha sexual é, portanto, mais devastadora do que a culpa. A culpa refere-se ao que se fez; a vergonha, ao que se é. Nesse sentido, sintomas como impotência, masturbação compulsiva ou inibição do desejo não apenas carregam o peso de tabus sociais, mas revelam feridas narcísicas. O paciente não se envergonha apenas de seus comportamentos, mas da própria experiência de desejar, o que repercute em sua autoestima e em sua confiança para estabelecer vínculos íntimos.
É nesse ponto que a função do analista não consiste prioritariamente em interpretar, mas em sustentar. O espaço terapêutico deve possibilitar que o paciente vivencie a experiência de ser escutado sem ridicularização ou desqualificação. A vergonha, quando reconhecida e contida no vínculo analítico, abre acesso às camadas mais profundas do recalcado, tornando-se possibilidade de integração.
Jacoby (2024) alerta ainda para o perigo da banalização ou do reducionismo diante desse afeto:
“Gostaria de advertir contra julgar como neurótico todo sentimento de vergonha ligado à exposição de atividades e fantasias sexuais, e postular cautela, a fim de não confundirmos impudência desrespeitosa com uma saudável atitude em relação à sexualidade”
(Jacoby, 2024, p. 111).
A advertência assinala dois riscos clínicos: de um lado, patologizar toda vergonha como resíduo moralista; de outro, supor que a ausência de vergonha equivalha automaticamente a saúde psíquica.
Essa distinção é fundamental. Alguns sentimentos de vergonha preservam a dignidade da intimidade, funcionando como defesa saudável contra a exposição desrespeitosa. Outros, porém, assumem caráter paralisante, interditando a possibilidade de encontro erótico e reforçando a autoimagem de indignidade. O trabalho clínico exige discernimento para não confundir vergonha protetiva com vergonha patológica.
Por fim, a cultura contemporânea, marcada pela aparente liberalização sexual, não eliminou o poder da vergonha. Ao contrário, produziu novas formas de exclusão: quem não se alinha às expectativas de desempenho ou liberdade sexual passa a sentir-se inadequado, incompleto ou “menos humano”. O que se apresenta como liberdade generalizada pode funcionar como fonte de constrangimento, reforçando a experiência de humilhação íntima.
Assim, a vergonha sexual deve ser compreendida como experiência estruturante, que pode tanto cristalizar o sujeito na posição de indignidade quanto abrir, na clínica, uma via de elaboração e integração. O acolhimento desse afeto no setting analítico, sustentado pela empatia e pela capacidade de sobrevivência do analista às resistências e rejeições, constitui um dos caminhos mais fecundos para a reconstrução da autoestima e para o avanço do processo de individuação.
Solidão, solteirice e desvalorização social
Outro eixo de análise de Jacoby é a solteirice, marcada pela tensão entre o desejo de proximidade e o peso de normas culturais discriminatórias. O sofrimento não está apenas na ausência de amor, mas no estigma social de ser visto como indesejado:
“O páthos da solteirice é duplo. Aqui há não somente um anseio por amor, proximidade emocional e física não satisfeito, mas pode também haver a vergonha advinda de ser visto pelo mundo como não amado e indesejável” (Jacoby, 2024, p. 115).
Esse julgamento social é reforçado pela introjeção de um “fantasma patriarcal” que reduz a mulher a um ser incompleto sem um homem ao lado. Nos homens, o peso é menor, mas também presente. A consequência é um ciclo de desconfiança, isolamento e autorrejeição:
“Uma impenetrável barreira de vergonha impede qualquer pessoa de aproximar-se suficientemente para descobrir quão fraco e necessitado eu sou”
(Jacoby, 2024, p. 118).
Nos casos mais graves, trata-se de uma vergonha primária, ligada à sensação de indignidade existencial:
“Em casos muito sérios, dever-se-ia falar de uma vergonha primária na qual o padrão de interação comunica a mensagem interior de que ‘eu deveria ocultar minha face do mundo. Não sou adequado para ser humano, pois sou indigno de amor’” (Jacoby, 2024, p. 120).
A solidão aparece, então, como cárcere psíquico: quem sofre sente-se não apenas privado de amor, mas destituído de valor diante do olhar do outro. A experiência é de exclusão e desamparo, um eco da ferida precoce que condena o sujeito a um ciclo de retraimento e suspeita.
No entanto, a perspectiva junguiana abre uma fresta simbólica. Jung, em Memórias, Sonhos, Reflexões, descreve sua própria vivência de solidão não como mero isolamento social, mas como impossibilidade de comunicar o essencial da alma:
“A solidão não significa a ausência de pessoas à nossa volta, mas sim o fato de não podermos comunicar-lhes as coisas que julgamos importantes, ou mostrar-lhes o valor de pensamentos que lhes parecem improváveis. (…) Mas a solidão não significa, necessariamente, oposição à comunidade; ninguém sente mais profundamente a comunidade do que o solitário, e esta só floresce quando cada um se lembra de sua própria natureza, sem identificar-se com os outros”
(Jung, 2012, p. 356).
Essa formulação ressignifica a solidão: de sintoma da vergonha, ela pode tornar-se experiência de individuação. O sujeito solitário, se não for paralisado pela humilhação, pode descobrir uma comunidade mais profunda, fundada não no reconhecimento social imediato, mas na fidelidade à sua própria natureza.
A tensão entre Jacoby e Jung é fértil: enquanto Jacoby alerta para o risco de a vergonha aprisionar o indivíduo em uma identidade de “não amado”, Jung sugere que a solidão, quando atravessada, pode abrir a via do Self. A clínica, nesse ponto, se torna campo ético e simbólico: não negar o sofrimento da exclusão, mas também não perder de vista o potencial transformador da solidão que reconecta o sujeito consigo mesmo e, paradoxalmente, com a comunidade mais autêntica.
Do ponto de vista clínico, entretanto, a solidão não aparece apenas como ausência de vínculos, mas como presença de um fantasma interior. Esse fantasma, internalizado como voz que sentencia indignidade – “não sou digno de amor” -, organiza a vida relacional em torno da retração, do silêncio e da suspeita. Ao erguer defesas para não ser novamente envergonhado, o sujeito acaba repetindo na relação analítica a cena que mais teme: expor-se e ser ridicularizado.
É nesse campo transferencial que a vergonha mostra sua face mais cruel: o paciente evita o contato como se já soubesse o desfecho de antemão, antecipando rejeição ou piedade. O analista é convocado, então, a sustentar esse silêncio e essa retração sem devolvê-los como desprezo. Se ceder à pressa ou à indiferença, confirma o fantasma; se suporta com empatia radical, oferece a chance de uma nova experiência de vínculo.
Nesse sentido, a clínica se apresenta como lugar de mediação: pode transformar a solidão vergonhosa em solidão criativa, desde que o analista tolere a transferência negativa e sobreviva à suspeita. O silêncio que parecia cárcere pode se converter em espaço de gestação, e a vergonha, em vez de condenar ao isolamento, torna-se caminho para o encontro com o Self.
Discussão
A vergonha se diferencia profundamente da culpa. Enquanto a culpa pode ser localizada em uma transgressão – algo feito contra uma norma – a vergonha recai sobre o próprio ser, instaurando uma ferida no modo de existir. Essa diferença confere à vergonha um poder mais corrosivo: em vez de apontar para a reparação de um ato, ela atinge a autoestima, paralisa o desejo e impregna os vínculos de desconfiança. Por isso, não se esgota como afeto momentâneo, mas se converte em condição existencial que cala, retrai e fixa o sujeito em imagens de indignidade.
O silêncio aparece como parte essencial desse trauma. Não é um silêncio vazio, mas carregado de defesas, como se cada palavra pudesse expor novamente a ferida e atrair humilhação. Muitas vezes, o que parece orgulho, frieza ou autossuficiência revela-se como couraça contra a repetição da vergonha. O paciente que se cala não está apenas evitando falar, mas tentando sobreviver a uma exposição temida como mortífera. A clínica mostra que não cabe ao analista romper esse silêncio com pressa ou curiosidade invasiva. É preciso sustentá-lo, acolhê-lo como parte do processo, reconhecendo que nele se esconde tanto a dor quanto a tentativa de proteção. O que protege também isola; o que isola também perpetua o trauma.
Esse movimento silencioso se articula com a experiência transferencial. O paciente oscila entre investir no analista como possível continente e desconfiar dele como ameaça de ridicularização. Surge o risco de fantasiar o analista como voyeur, juiz ou intruso – alguém que repetirá a ferida original ao olhar com desprezo ou piedade. A clínica da vergonha exige, assim, um manejo radical: não interpretar de forma apressada, não se defender diante das rejeições projetadas, mas sobreviver ao ataque. A sobrevivência do analista, sem retaliar nem recuar, torna-se por si só uma experiência transformadora. O analisando descobre que pode ser visto, até em sua fragilidade, sem ser destruído.
Essa sobrevivência tem efeitos simbólicos profundos. Na linguagem da psicologia analítica, poderíamos dizer que a vergonha mobiliza a persona e a sombra em um mesmo movimento: a persona tenta sustentar uma imagem de dignidade diante do outro, enquanto a sombra denuncia o núcleo de indignidade que se sente exposto. O campo analítico, quando suportado, permite que essa divisão se torne menos rígida, abrindo passagem para que aspectos rejeitados encontrem reconhecimento. A vergonha, assim, deixa de ser apenas prisão e passa a ser limiar: o lugar onde o self pode se reconstruir a partir da aceitação da própria vulnerabilidade.
Esse paradoxo se estende também ao campo da sexualidade. A vergonha erótica não se limita à repressão moralista, mas toca a raiz do desejo: o paciente não se envergonha apenas do que faz, mas de desejar. Muitas vezes, a vergonha surge como acusação silenciosa que acompanha fantasias ou práticas sexuais, instalando a sensação de ser irremediavelmente defeituoso. Na clínica, o risco é que tanto paciente quanto analista se escondam atrás de simbolizações apressadas para evitar o contato direto com esse afeto. O manejo adequado não é a pressa em interpretar, mas a capacidade de sustentar esse terreno, para que o desejo possa ser expresso sem se converter em humilhação.
Do ponto de vista cultural, a situação se torna ainda mais complexa. A sociedade contemporânea, marcada pelo imperativo da performance sexual e da liberdade sem limites, não aboliu a vergonha: apenas a deslocou. Hoje, sentir-se inadequado pode significar não corresponder às expectativas de prazer, potência ou liberdade. A ausência de desejo é vivida como falha, e até a recusa a certas práticas pode ser interpretada como prova de insuficiência. Assim, a cultura reforça novas formas de exclusão, e o paciente chega ao setting carregando não apenas seus conflitos íntimos, mas também os fantasmas coletivos que o acusam de “ser menos”.
A solidão e a solteirice, outro foco do estudo de Jacoby, também revelam esse paradoxo. Não se trata apenas de estar só, mas de sentir-se excluído, estigmatizado, como se a ausência de um parceiro fosse prova pública de indignidade. Nesse ponto, Jacoby descreve uma vergonha primária que sentencia: “não sou digno de amor”. Essa experiência ecoa na clínica como retraimento, desconfiança e dificuldade de investir em vínculos. O paciente se protege da dor de ser rejeitado erguendo barreiras que, paradoxalmente, apenas confirmam seu isolamento.
A contraposição fecunda sobre a solidão não ser somente ausência de pessoas abre um horizonte de sentido: a solidão que parecia apenas exclusão pode tornar-se experiência de individuação, um caminho para uma comunhão mais autêntica.
Quando o paciente percebe que pode expor sua fragilidade sem ser ridicularizado, o silêncio se converte em palavra e o isolamento em vínculo. A vergonha, que parecia apenas ferida, se mostra então como via de reconexão com a humanidade partilhada.
No campo simbólico, isso significa que a vergonha pode funcionar como uma ferida iniciática: aquilo que obriga o ego a reconhecer sua limitação e a abrir-se para uma dimensão maior do self. Assim como a solidão descrita por Jung, a vergonha, quando atravessada, pode se tornar passagem para uma dignidade interior. A clínica da vergonha não é apenas clínica do trauma, mas clínica da travessia: entre o silêncio e a palavra, entre a humilhação e o reconhecimento, entre o isolamento e a comunhão.
Em última instância, o percurso analítico revela que a vergonha, longe de ser apenas cicatriz traumática, pode tornar-se uma via de aprofundamento da dignidade interior. A ferida que condenava ao silêncio pode ser atravessada até se tornar palavra; a humilhação, metabolizada em reconhecimento; a solidão, transfigurada em individuação.
Portanto, a discussão aponta para uma compreensão ampliada da vergonha: não apenas como afeto devastador, mas como afeto limiar, que marca a fronteira entre exclusão e transformação. No espaço clínico, ela exige do analista a capacidade de permanecer diante do silêncio, da retração e do embaraço sem reagir com indiferença ou pressa interpretativa. Esse gesto ético é o que devolve ao paciente a possibilidade de existir com dignidade.
Nesse processo, a clínica da vergonha revela-se como clínica do humano em sua vulnerabilidade radical: lugar onde o sujeito descobre que ser digno de amor não é eliminar a ferida, mas habitá-la com inteireza.
Conclusão
O capítulo 6 de A Vergonha e as Origens da Autoestima mostra que a humilhação e o silêncio não são apenas episódios contingentes, mas configurações estruturantes que se enraízam em experiências precoces de desamparo. A vergonha, diferentemente da culpa, não se dirige a uma ação, mas ao próprio ser. Por isso, seus efeitos se manifestam na sexualidade, no corpo, na solidão e no vínculo terapêutico: ela cala, paralisa, isola e inscreve no sujeito a sensação de indignidade.
Jacoby lembra que esse afeto se prolonga em múltiplos campos da vida, assumindo formas que vão da impotência à dificuldade de confiar, da solteirice estigmatizada ao silêncio no setting analítico. Em cada um desses lugares, a vergonha atua como trauma primário: um afeto que, ao invés de escoar, se cristaliza em autorrejeição e em um padrão repetitivo de exclusão. A ferida não é apenas social, mas existencial, pois atinge a própria possibilidade de se reconhecer digno de amor.
No entanto, como Jacoby sugere, quando a vergonha é trazida para a palavra e sustentada na relação analítica, ela pode converter-se em possibilidade de transformação. O analista, ao suportar rejeições, resistências e suspeitas sem recuar, oferece ao paciente a experiência de que é possível ser visto sem ser aniquilado. A empatia verdadeira rompe o círculo vicioso de autorrejeição, permitindo que o silêncio ceda lugar à fala e que a humilhação seja metabolizada em experiência compartilhada.
Inspirando-nos em Jung, pode-se compreender que esse confronto com a vergonha inscreve-se no horizonte da individuação: todo encontro com o limite, por mais doloroso, abre também a possibilidade de maior inteireza. A vergonha, que antes era apenas ferida paralisante, pode tornar-se força integrativa, pois expõe o ego à necessidade de aceitar sua vulnerabilidade e reconhecer-se parte de algo maior do que sua própria onipotência defensiva.
Assim, a clínica da vergonha não é apenas a clínica de uma ferida, mas a clínica de uma travessia: da exclusão para a dignidade, do silêncio para a palavra, do falso orgulho para a autocompaixão. Quando sustentada em análise, a vergonha deixa de ser um cárcere e transforma-se em um limiar – doloroso, mas fértil – para a construção de uma autoestima enraizada no reconhecimento do próprio ser.
Referências
FORDHAM, Michael. Explorations into the self. London: Karnac, 1994. (Original publicado em 1957).
JACOBY, Mario. A vergonha e as origens da autoestima. Petrópolis: Vozes, 2024.
JUNG, Carl Gustav. Memórias, sonhos, reflexões. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
KNOX, Jean. Self-agency in psychotherapy: Attachment, autonomy and intimacy. New York: W. W. Norton, 2003.
Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga. É graduada em Psicologia pelo IBMR e com especializações em Psicologia Analítica; na área de Perinatalidade; em Psicologia Sexual; e Especialista em Psicologia do Desenvolvimento Infantil e Adolescente, e Familia e Casais. Possui uma especialização em Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva. No Cepaes, oferece atendimentos online. (Atendimentos presenciais disponíveis no RJ).