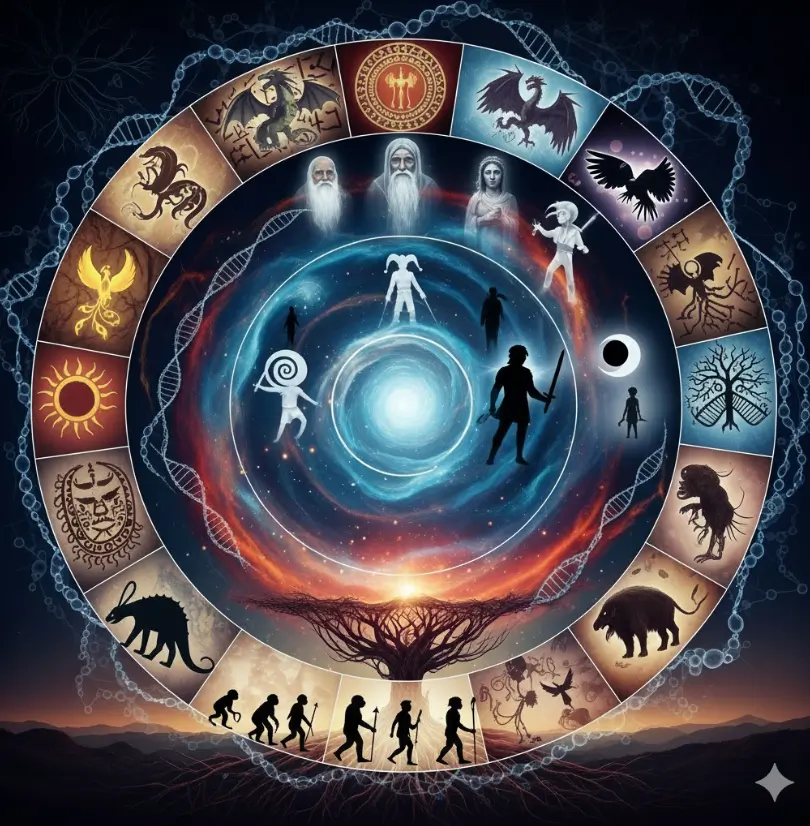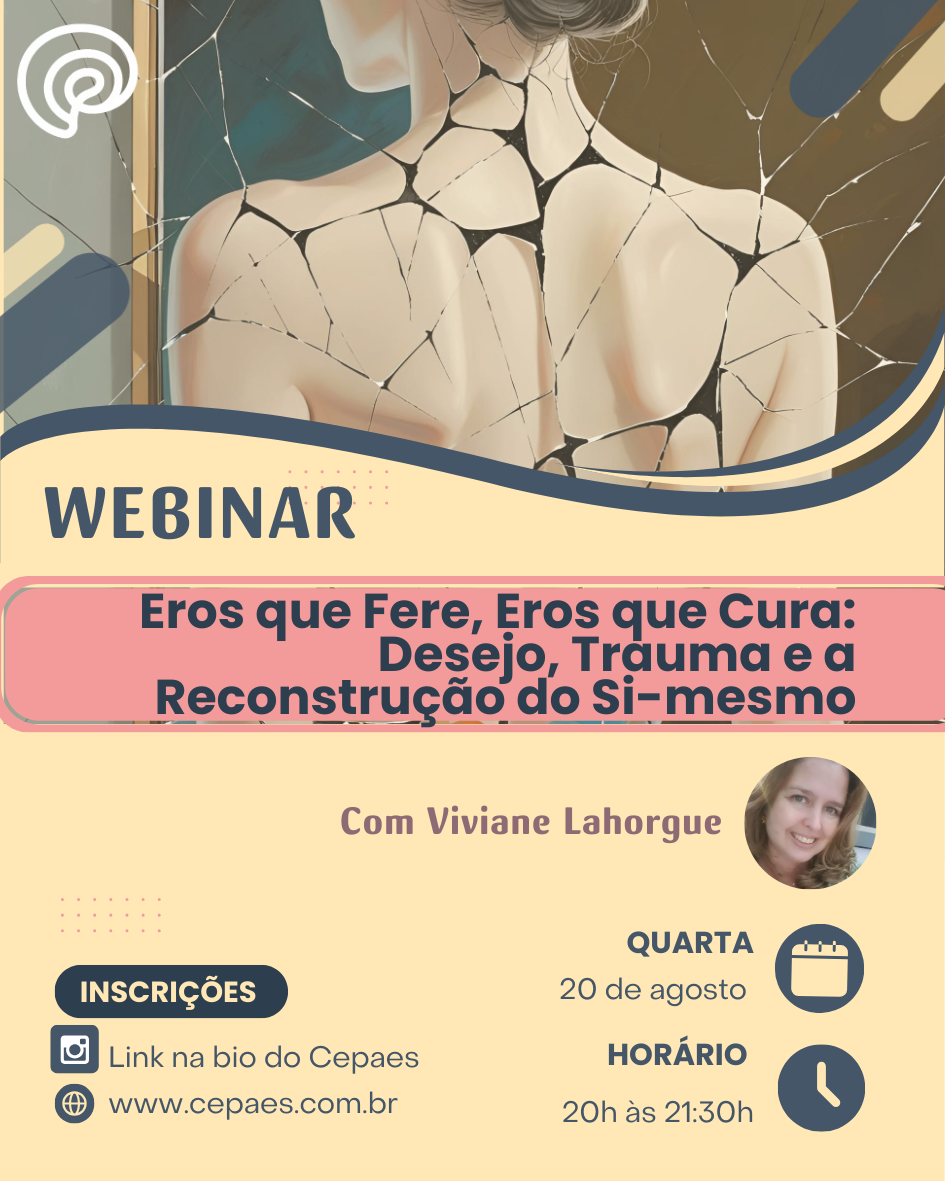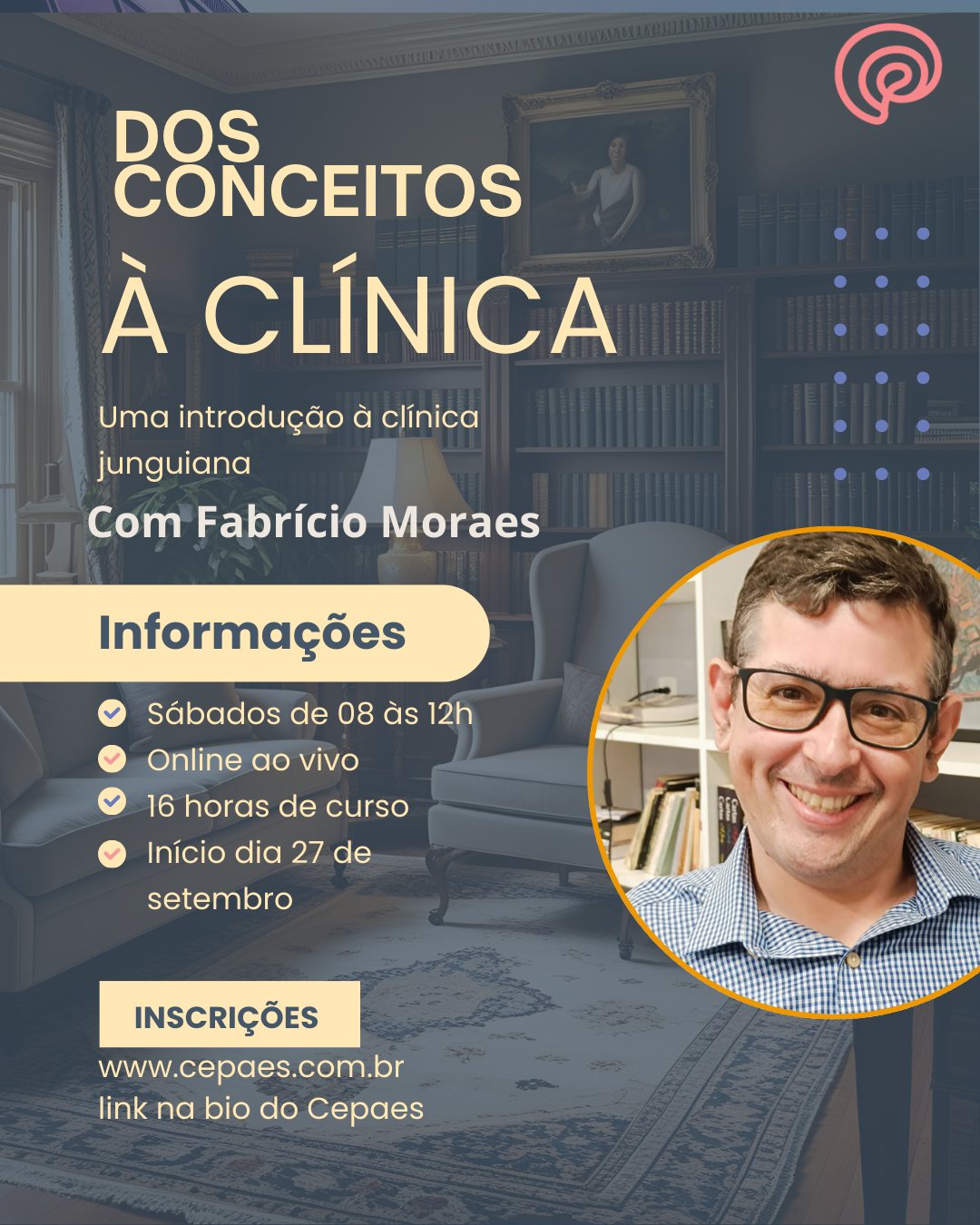A Imagem Proibida e o Ícone Interior: Besançon, Jung e o Desenvolvimento do Self
Introdução: o invisível que se deixa ver
A história da imagem é, em essência, a história do olhar humano diante do mistério. Desde as pinturas rupestres até as telas digitais, o que buscamos representar é sempre o que nos excede: o invisível que se deixa entrever na superfície visível.
Em A Imagem Proibida, Alain Besançon percorre esse caminho com rigor e sensibilidade, examinando como as tradições religiosas — judaica, cristã e islâmica — enfrentaram o paradoxo da representação do divino: ver sem trair, mostrar sem possuir.
No centro de sua reflexão está uma tensão que também habita a alma humana: a relação entre forma e presença, entre o que pode ser mostrado e o que deve permanecer velado.
A proibição da imagem, longe de ser um gesto de censura estética, é para Besançon um ato de proteção espiritual — a salvaguarda do mistério contra a arrogância do olhar. “A idolatria nasce”, escreve ele, “quando a forma substitui o que ela deveria evocar” (Besançon, 1994, p. 42).
Nesse gesto de interdito, há uma ética do ver: o convite a um olhar que se curva diante do que não pode capturar.
Essa reflexão dialoga profundamente com a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, para quem as imagens do inconsciente — sonhos, símbolos, fantasias — também são expressões do invisível.
O símbolo, em Jung, não é um ornamento da mente, mas um acontecimento entre mundos: a ponte viva entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o numinoso.
Assim como o ícone bizantino é janela para o divino, o símbolo junguiano é porta de entrada para o Self — a totalidade psíquica que se manifesta por meio de imagens.
A partir dessa convergência, a imagem pode ser compreendida não apenas como forma estética, mas como função simbólica, com poder de transformação.
A interdição besançoniana e a função simbólica junguiana se encontram, portanto, no mesmo princípio: o mistério não se possui; se contempla.
1. O ídolo e o ícone: duas atitudes psíquicas
Besançon distingue duas formas de imagem: o ídolo, que prende o olhar, e o ícone, que o liberta.
O ídolo fecha o circuito da visão em si mesmo — o observador se perde na superfície, fascinado pela forma.
O ícone, ao contrário, abre a imagem: ele não mostra o sagrado, mas o deixa passar.
Essa distinção teológica pode ser traduzida em linguagem psicológica: o ídolo é o equivalente da identificação do ego com a imagem, enquanto o ícone representa a função simbólica que media o inconsciente.
Na clínica junguiana, essa diferença é essencial.
Quando o paciente se fixa em uma imagem — uma crença, um ideal, um trauma, uma persona — ele cria um ídolo interno, uma forma psíquica petrificada que bloqueia o movimento do Self.
Mas quando a imagem é acolhida como símbolo, ela atua: torna-se ícone vivo, capaz de religar o ego à totalidade interior.
A idolatria, nesse sentido, é a psicopatologia da imagem; o ícone, sua redenção simbólica.
Ver psicologicamente é, portanto, ver simbolicamente: não reduzir a imagem ao que ela mostra, mas escutar o que nela quer nascer.
A função do analista é semelhante à do iconógrafo: preparar o espaço, limpar o campo, permitir que o invisível se manifeste na matéria.
Como no ateliê de um monge, o trabalho é silencioso, paciente e ritual. O que se cria não é arte, mas presença.
2. A clínica como lugar do ícone
Se o ícone é a ponte entre o visível e o invisível, o consultório analítico é o espaço onde essa ponte se atualiza — o lugar do ícone.
A análise é uma liturgia silenciosa onde as imagens emergem, não como objetos de interpretação, mas como sujeitos de revelação.
O sonho, a lembrança, o gesto, a fala entrecortada — tudo pode se tornar epifania simbólica quando é recebido com reverência.
O analista, nesse contexto, é guardião do mistério da imagem.
Sua tarefa não é decifrar, mas sustentar o campo simbólico onde a imagem possa respirar.
A pressa de interpretar é uma forma de profanação; a contemplação é o gesto ético do olhar simbólico.
Em outras palavras, a clínica é o espaço em que a proibição da imagem — a advertência contra o olhar que captura — se transforma em ética da presença.
Para Jung, o símbolo não é inventado ou criado, ele surge, acontece.
Essa afirmação ecoa em Besançon: o ícone também não se cria, ele se manifesta.
A verdadeira obra é do espírito — ou, em termos junguianos, do Self.
O analista é, nesse sentido, o zelador do templo: limpa, observa, protege, mas não toca o altar.
3. A imagem viva e a função transcendente
A imagem viva é aquela que faz a travessia entre mundos.
Quando um sonho, um desenho ou uma recordação toca o paciente de modo inexplicável, o que se manifesta é a função transcendente — o movimento espontâneo da psique em direção à integração.
Nessa dinâmica, o símbolo atua como ícone interior: não representa o Self, mas o evoca.
A contemplação de um ícone e a escuta de um sonho obedecem à mesma lei: ambas são práticas de reverência.
No ícone, o olhar se torna oração; no sonho, a palavra se torna revelação.
A diferença é apenas de suporte — o espírito que age é o mesmo.
O espaço analítico, então, é o temenos — o recinto sagrado onde a imagem pode nascer.
E assim como a tradição bizantina pintava ícones em camadas, começando pelo fundo dourado (símbolo do divino), também o analista sustenta o campo luminoso onde o símbolo possa emergir.
Cada palavra dita, cada silêncio partilhado, é uma pincelada no invisível da alma.
A função transcendente, conceito central em Jung, não é um artifício do pensamento, mas uma função viva da psique que se manifesta quando o conflito entre opostos é sustentado sem ser negado.
Ela não resolve a tensão, mas cria uma terceira via simbólica, um novo nível de consciência capaz de incluir os contrários sem anulá-los.
Esse processo é profundamente imaginal: a síntese não se dá por argumentação racional, mas por meio de imagens espontâneas que emergem do inconsciente — sonhos, visões, fantasias, ou até gestos e afetos corporais que trazem à consciência o que estava dividido.
Na prática clínica, esse movimento acontece quando o analista e o paciente conseguem tolerar o entre — o espaço ambíguo entre o que é conhecido e o que está por vir.
A função transcendente é ativada no instante em que o conflito é contido sem ser suprimido, quando a escuta acolhe a contradição sem precipitar explicações.
É nesse ponto que a imagem viva aparece: não como solução, mas como ponte.
Ela encarna o paradoxo, oferece uma forma visível ao que era apenas tensã;o.
Por isso, Jung dizia que o símbolo “reúne os opostos num novo nível da realidade psíquica” (CW 8).
A imagem viva, então, não é ilustração da psique, mas o próprio ato de integração em curso.
A função transcendente é também um processo ético: ela educa a consciência para o diálogo com o inconsciente, impedindo que um polo — seja o racional ou o irracional — domine o outro.
Quando o ego escuta o inconsciente sem submeter-se a ele, e o inconsciente se manifesta sem invadir o ego, forma-se um campo intermediário onde algo novo pode nascer.
Esse “entre-lugar” é o espaço simbólico por excelência — o território do ícone.
Ali, a imagem não é mais uma defesa nem uma fantasia, mas uma presença viva que orienta a transformação.
O Self fala através dela, e o analista aprende a ouvir essa voz que se dá em forma de imagem.
A função transcendente é, portanto, o movimento alquímico da alma: o ouro simbólico que se forma quando os opostos são mantidos em tensão até que se transmutem.
A análise é o forno onde essa obra se realiza — um processo que requer calor, paciência e fé na imagem.
Quando um paciente sonha com algo inesperado após um longo período de silêncio interno, ou quando um desenho espontâneo revela uma nova disposição anímica, é a função transcendente que se manifesta: o inconsciente responde ao chamado da consciência, e o Self reorganiza o campo.
O analista testemunha essa obra invisível — a passagem do sofrimento estéril à imagem fértil, capaz de unir, curar e criar sentido.
Por isso, a função transcendente é também uma função estética e espiritual: ela é o modo como o mistério se faz visível, e como o visível se abre novamente ao mistério.
A imagem viva é o fruto desse processo — o ícone interior que surge quando a alma aceita se deixar pintar pela experiência. O ícone ganha forma à medida que o Self ilumina o conflito humano com sua luz.
A função transcendente na clínica: reconexão simbólica do Self
Quando o trauma irrompe na história psíquica, o campo da função transcendente é interrompido.
O que antes era tensão criativa entre polos — consciente e inconsciente, luz e sombra — torna-se fratura, dissociação, corte.
A energia que sustentava o diálogo simbólico se transforma em defesa, e as imagens, que antes mediavam o Self, tornam-se enclausuradas em estruturas rígidas.
É o que Donald Kalsched descreve como a formação de um sistema de defesa arquetípico: uma fortaleza psíquica que protege o núcleo ferido, mas ao custo da vitalidade.
A imagem, nesse contexto, deixa de ser viva; torna-se ídolo protetor, congelado no terror de sua função salvadora.
A função transcendente, ao contrário, é movimento e respiração.
Ela requer que o inconsciente possa se expressar — ainda que com dor — e que o ego possa suportar o impacto dessa expressão sem se romper novamente.
Por isso, o primeiro gesto analítico diante do trauma não é interpretar, mas reestabelecer o campo relacional que torna a tensão possível.
Antes de transcender, é preciso conter.
O analista, aqui, funciona como o contorno simbólico do Self: um recipiente que segura o sofrimento até que a psique volte a confiar no movimento da própria imagem.
Quando a dor é acolhida sem invasão, a psique começa lentamente a produzir novas imagens.
Elas surgem nos sonhos, nas falas fragmentadas, nas metáforas corporais.
São as primeiras manifestações da função transcendente em recuperação: pequenas pontes que religam o que estava cindido.
Kalsched observa que esse momento é decisivo, porque a imagem que retorna carrega tanto o terror original quanto a promessa de vida.
Ela precisa ser olhada como se olha um ícone — com delicadeza, silêncio e fé no mistério.
O olhar simbólico do analista é o que possibilita que a imagem volte a ser viva.
Michael Fordham ajuda a compreender esse processo em termos desenvolvimentistas.
Quando ele descreve as deintegrações primárias — momentos em que o Self se abre para o mundo e depois se reorganiza —, ele oferece um modelo para a função transcendente:
a psique precisa se dividir para se descobrir, e se reintegrar para continuar viva.
No trauma, a deintegração ocorre sem reintegração; o Self se fragmenta e não consegue retornar a si mesmo.
A análise, então, se torna um laboratório da reintegração simbólica: cada encontro, cada sonho elaborado, cada silêncio sustentado é um pequeno ciclo de deintegração e recomposição — uma miniatura do processo de individuação.
A função transcendente reaparece quando o paciente começa a suportar a contradição — amar e odiar a mesma pessoa, desejar e temer, confiar e desconfiar.
Esses pares opostos, que antes geravam cisão, tornam-se matéria prima para a construção de uma nova totalidade.
A psique volta a sonhar, e o Self, antes silencioso, começa a se comunicar novamente.
Cada imagem que surge nesse processo é uma vitória da alma sobre o congelamento.
Jung afirmava que “o símbolo nasce quando os caminhos opostos do espírito e da matéria se encontram em uma nova síntese” (CW 8.)
Na clínica do trauma, essa síntese é também um ato de compaixão: o Self voltando a habitar o corpo ferido.
A função transcendente é, portanto, a dimensão curativa do símbolo.
Ela é o que permite ao inconsciente expressar-se sem aniquilar o ego, e ao ego transformar-se sem perder sua coerência.
Quando o analista sustenta a tensão entre o desespero e a esperança, entre o silêncio e a palavra, entre o medo e a curiosidade, ele torna possível que algo novo nasça.
Essa nova forma — o símbolo, o ícone interior — é a prova de que a psique retomou sua respiração.
A imagem volta a circular entre dentro e fora, entre o que foi ferido e o que pode florescer.
Assim, o trabalho clínico com o trauma é também uma prática da função transcendente.
Ele não busca eliminar a dor, mas transformá-la em símbolo — ou seja, dar-lhe corpo, voz e sentido.
Cada integração parcial é um lampejo do Self recuperando território, uma pequena alquimia psíquica em que o sofrimento se converte em significado.
A função transcendente, nesse sentido, é o verdadeiro milagre da psicoterapia: ela faz com que o que estava morto volte a sonhar, o que estava petrificado volte a se mover, e o que estava fragmentado reencontre a sua forma.
A imagem viva, portanto, é o sinal visível desse processo invisível.
Ela nasce do ponto de tensão entre o ego e o Self, entre a defesa e o desejo, entre o medo e a entrega.
E o analista, como guardião do ícone, é aquele que sabe esperar o instante em que a imagem começa a pulsar novamente — como quem observa o primeiro sopro de vida voltar ao rosto de uma alma que antes dormia.
4. A beleza que não se possui
Em A Imagem Proibida, Besançon insiste que a beleza verdadeira é aquela que não pode ser possuída, apenas contemplada.
Esse pensamento ressoa com Jung, para quem o Self é “um mistério numinoso que se revela sem jamais se deixar capturar pela consciência”.
E com Hillman, que via a beleza como a linguagem da alma — aquilo que dá forma visível ao invisível, sem trair seu segredo.
A beleza simbólica é, portanto, ética: ela nos educa para um olhar humilde, que não reduz o mistério ao conceito.
A clínica, nessa perspectiva, é também um exercício estético: aprender a ver com delicadeza, a sustentar o belo sem apropriação, a deixar o sentido se mostrar no tempo da alma.
No encontro analítico, o olhar simbólico é o oposto da curiosidade: é um gesto amoroso de não invasão.
O Self floresce onde há espaço para o invisível.
E talvez essa seja a lição maior que une Besançon, Jung e a experiência clínica:
olhar é um ato de fé — não em uma doutrina, mas no mistério que habita cada imagem viva.
5. O olhar simbólico: o analista como guardião da imagem
O olhar simbólico é aquele que vê o invisível sem tentar possuí-lo.
Enquanto o olhar literal interroga e decifra, o olhar simbólico escuta — ele sabe que as imagens têm uma vida própria, uma pulsação autônoma que não se submete à razão.
Besançon chamou isso de “ver sem ferir”: uma contemplação que preserva o mistério. Jung, por sua vez, descreveu esse mesmo gesto como a atitude simbólica — a disposição interna de permitir que o sentido emerja, em vez de ser imposto.
Hillman diria que é o olhar da alma, aquele que reconhece o valor imaginal de tudo o que vive.
Na prática clínica, esse olhar é o que funda o campo de confiança entre analista e paciente.
É um olhar que não interpreta antes do tempo, que suporta o vazio e a incerteza, que reconhece que o sofrimento precisa ser visto, não resolvido.
O analista torna-se, assim, o guardião da imagem, aquele que sustenta o espaço onde as imagens interiores possam se manifestar sem serem destruídas pela pressa de significar.
Ele guarda, sem aprisionar; ilumina, sem cegar.
Ser guardião da imagem é um ato de humildade psíquica.
Requer aceitar que a imagem sabe mais do que o ego — que ela carrega em si uma sabedoria simbólica, uma organização inconsciente que busca totalidade.
Como o pintor de ícones que ora antes de tocar a madeira, o analista trabalha sob o signo do cuidado.
Sua escuta é sua oração.
6. A imagem e o desenvolvimento do Self
A contribuição da Escola Desenvolvimentista aprofunda e encarna essa visão.
Michael Fordham descreveu o Self como uma totalidade presente desde o início da vida, mas que só pode se realizar por meio de um processo de deintegração e reintegração contínuas.
O bebê, em seus primeiros contatos com o ambiente, experiencia o Self como uma totalidade indiferenciada; aos poucos, o contato com o outro possibilita a emergência do ego e a diferenciação da consciência.
A imagem, aqui, desempenha uma função essencial: é meio de integração psíquica.
As imagens internas (afetivas, sensoriais, oníricas) funcionam como representações do Self em desenvolvimento.
Elas não são metáforas abstratas, mas experiências emocionais condensadas — fragmentos simbólicos de um Self que se faz corpo, voz, olhar.
Assim como o ícone protege o mistério divino de uma exposição profana, a imagem simbólica protege o Self de uma invasão precoce da consciência.
Quando o bebê é olhado por uma presença amorosa e continente, essa relação cria o primeiro “ícone psíquico” — um espelho simbólico que devolve ao Self sua própria possibilidade de ser.
A interdição da imagem, em Besançon, corresponde a esse mesmo cuidado: o respeito pelos limites do invisível.
A mãe, ao sustentar o olhar sem invasão, oferece ao bebê a experiência primordial da contemplação segura — a origem da função simbólica.
7. Ícones feridos: trauma e defesa
Donald Kalsched, em O Mundo Interior do Trauma (1996), descreve o que ocorre quando essa relação simbólica é rompida: o Self se defende criando imagens arquetípicas protetoras, que, em vez de mediarem, passam a aprisionar.
O trauma transforma o ícone em ídolo: a imagem que antes era viva torna-se uma estrutura rígida de defesa psíquica.
A psique, ameaçada, cria deuses guardiões — figuras de poder que isolam o afeto, impedindo o contato com a dor e, portanto, com o Self.
Na clínica, essas imagens aparecem em sonhos e fantasias que misturam beleza e terror — anjos e demônios, prisões douradas, figuras persecutórias que ao mesmo tempo ferem e protegem.
O trabalho analítico, então, é restaurar o ícone, permitindo que a imagem volte a ser ponte e não muro.
Quando o paciente consegue olhar novamente para o símbolo sem ser engolido por ele, o Self retoma sua função criadora.
O invisível deixa de ser ameaçador e volta a ser fonte de sentido.
Esse processo é, em si, uma forma de reparação simbólica: a reconciliação entre a imagem e o olhar.
A imagem traumática deixa de ser ídolo (defesa congelada) e torna-se ícone (símbolo vivo).
E o analista, mais uma vez, é o guardião desse altar delicado.
8. Estruturas de expectativa e o Self relacional
Jean Knox amplia essa visão ao propor que as imagens arquetípicas não são formas herdadas prontas, mas estruturas de expectativa afetiva.
Elas nascem nas primeiras experiências de relação — no modo como o bebê é olhado, tocado, acolhido.
O arquétipo, assim, é menos uma imagem inata do que um padrão de possibilidade relacional.
Quando há falha ou ruptura nesse início, a psique cria imagens substitutivas: defesas simbólicas que tentam restaurar o vínculo perdido.
Na análise, o paciente frequentemente revive essas imagens em relação ao analista, esperando um olhar que o reconheça sem se apropriar — o mesmo olhar simbólico que o Self esperava encontrar no início da vida.
Nesse sentido, a clínica é uma segunda infância simbólica, onde as imagens do Self têm nova oportunidade de se desenvolver.
A “função ícone”, que na infância foi precariamente instaurada, pode ser recriada no campo analítico.
O olhar continente do analista torna-se o novo ícone: ele não mostra o divino, mas permite que o divino interior se manifeste.
9. O desenvolvimento como liturgia da alma
O desenvolvimento psicológico é, em última instância, uma liturgia invisível.
A cada reintegração, o Self celebra o retorno de uma parte perdida da alma.
O processo analítico, quando vivido em profundidade, é uma cerimônia simbólica onde o sofrimento é transfigurado em imagem viva.
Besançon escreveu:
“L’icône n’est pas l’objet d’un regard profane; elle est lieu d’une rencontre.”
(“O ícone não é objeto de um olhar profano; é o lugar de um encontro.”)
— L’Image interdite (1994, p. 67)
Essa frase poderia estar em um texto de Jung, Fordham ou Hillman.
O ícone é o campo de encontro entre o humano e o mistério — e a análise é esse mesmo campo, onde o invisível se deixa entrever no rosto de quem sofre e de quem escuta.
O desenvolvimento do Self não é apenas um processo intrapsíquico: é um rito de passagem entre mundos.
Cada símbolo que nasce é um pequeno renascimento; cada imagem que se integra é um fragmento de eternidade restaurado na alma.
A proibição da imagem, compreendida à luz da psicologia analítica, não é negação do olhar — é convite à contemplação.
É o chamado para ver com alma, para fazer do olhar um gesto de amor.
Conclusão: o invisível habitável
Entre o ídolo e o ícone, entre a imagem que aprisiona e a que liberta, o olhar humano se educa no mistério.
A imagem é, para Besançon, o lugar onde o invisível se arrisca a ser visível; para Jung, o meio pelo qual o inconsciente se torna consciente; para Fordham, o campo onde o Self se faz relação; para Knox, a matriz viva das primeiras experiências afetivas; para Kalsched, o cenário onde a dor se defende e, um dia, se cura; e para Hillman, o próprio corpo da alma.
Em todas essas vozes, há uma mesma melodia: a imagem é o modo como o espírito se faz carne psíquica.
Ver simbolicamente é participar desse milagre cotidiano — a encarnação do invisível.
A clínica, então, é um templo discreto, onde o sagrado se faz humano e o humano se revela sagrado.
Cada sonho é um vitral; cada silêncio, uma oração; cada insight, uma abertura na iconóstase da alma.
A imagem proibida — aquela que não pode ser possuída — é justamente a que mais nos transforma, porque nos ensina a amar o que não se pode dominar.
E é nesse amor silencioso, nesse olhar que vê sem ferir, que o Self se reconhece — imagem viva de um mistério que continua a nos olhar de volta.
Referências
- Besançon, A. (1994). L’Image interdite: Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme. Paris: Fayard.
- Jung, C. G. (1954/2013). Aion: Estudos sobre o simbolismo do Si-mesmo. Obras Completas, vol. 9/2. Petrópolis: Vozes.
- Fordham, M. (1957/1985). Explorations into the Self. London: Academic Press.
- Kalsched, D. (1996). The Inner World of Trauma: Archetypal Defenses of the Personal Spirit. London: Routledge.
- Knox, J. (2003). Archetype, Attachment, Analysis: Jungian Psychology and the Emergent Mind. London: Routledge.
- Hillman, J. (1975/2010). O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo. Petrópolis: Vozes.